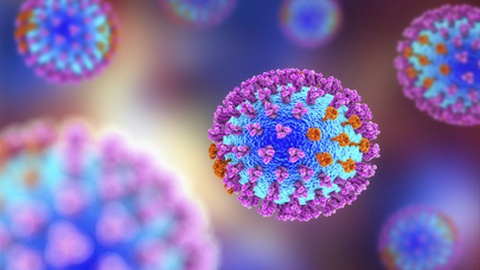A arca do dote
O Laranjal era um lugar de agricultores e de operários, gente que se habituava ao mundo novo
A vida custava a ganhar para as pessoas que viviam naquelas casas, acima ou abaixo do caminho, no beco que ia dar à igreja e até onde eu conseguia ver do terraço. Os homens levantavam-se cedo para ir para as obras; as mulheres ficavam a tratar da casa e, de tarde, sentavam-se a bordar. As mais novas e as solteiras - como as minhas tias - limpavam quartos em hotéis, o soalho e os quadros das escolas ou embalavam banana nos armazéns e dobravam bordados nas fábricas da cidade.
O Laranjal era um lugar de agricultores e de operários, gente que se habituava ao mundo novo que subia encosta acima e trazia empregos novos também para quem não tinha estudos, sobretudo para as mulheres. E eram elas que enchiam o autocarro das sete e meia com aquele cheiro a Bien-Être, a água de colónia que se vendia na Casa Catanho e no Bazar do Povo. A minha tia Conceição também usava, trouxe o costume do hotel Girassol, onde aprendeu a arranjar o cabelo, a pintar as unhas e a nunca sair de casa sem batom.
Todos os meses essa multidão que enchia autocarros aumentava, havia mais pessoas, mais braços para trabalhar nos armazéns, nos hotéis, ao balcão das lojas ou em escritórios, onde faziam falta paquetes, dactilógrafas, gente que soubesse tratar dos papelada e atender os telefones. As famílias, em todas as casas que eu conseguia ver, sonhavam com um emprego no banco para os filhos e o curso de professora para as filhas, mas também podia ser um bom casamento. As senhoras dos bordados traçavam o perfil do noivo perfeito: que fosse trabalhador, não bebesse e tivesse uma arte. E ter uma arte era ser mestre pedreiro, carpinteiro, electricista.
Os homens com estudos não eram para as mulheres do Laranjal, iam lá casar com as filhas dos operários que viviam lá por cima, naquelas casas de duas janelas e uma porta, mais um acrescento em cimento e um xadrez. E não fazia mal, as pessoas da cidade tinham outra vida e não ia encaixar ali, onde as mães compravam uma arca de madeira às filhas para encher com bordados, panos de cozinha, lençóis e toalhas, o tesouro que levavam quando se casavam e do qual a minha mãe me dispensou. O dote começava a ser feito aos 12, 13 anos, mas eu não tive um.

As razões da minha mãe terão sido financeiras, quase todas as decisões que tomava estavam relacionadas com o dinheiro que tínhamos ou com o que faltava. A meio dos anos 80, com os preços a subir, deve ter pensado que era melhor passar à frente. Havia obras em casa e outras despesas, trataria disso depois, mas nunca fizemos isso. Os anos trouxeram o curso em Lisboa, mais despesas e mais dinheiro para poupar e gerir. E a jovem universitária em que me transformei não achava romântico encher um baú com toalhas e panos.
A mesma jovem que gostava de roupas pretas e surradas, que via filmes alternativos, lia muito e tinha ideias muito firmes sobre o amor e o casamento e nenhuma incluía o dote. E se eu queria um amor como o dos livros e dos filmes (e como os das telenovelas), a minha mãe estava ocupada a bordar para a casa e para ganhar dinheiro. O dote, se alguma vez fosse preciso, iria arranjar maneira de bordar uns lençóis e mais uns panos de tabuleiro, mas, ao contrário destes planos, o tempo da minha mãe estava a acabar. Quando morreu, havia em casa apenas o dote dela feito pela minha avó e não enchia uma gaveta da cómoda.
E, se tirasse os terrenos e a casa, a herança da minha mãe resumia-se a um par de brincos, um anel e a aliança do casamento, mas dizer isto é simplificar demais tudo o que fez por mim naquele Laranjal ainda rural, operário e conservador. A dona Celina deixou-me sonhar, permitiu que fosse romântica como nos filmes e nas telenovelas. E isso foi o mais difícil de alcançar num lugar onde a vida custava muito a ganhar.