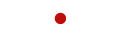De volta
As minhas férias da escola duravam três meses e, duas semanas antes do fim, a minha mãe metia-nos no autocarro para irmos tratar do assunto à cidade. Tratar do assunto significava comprar os livros que não tinham passado do meu irmão, uns cadernos e umas esferográficas e seguir um penoso roteiro pelas lojas a tentar encontrar roupa e sapatos para chuva que coubessem no orçamento daquela senhora de meia idade, já grisalha e com o hábito de pedir descontos aos empregados.
Eu não sabia o que me custava mais. Se a mania de pedir uma simpatia quando lhe apresentavam a conta, se o facto de ser surda aos meus pedidos de socorro perante aquelas roupas esquisitas e baratas que os lojistas desencantavam. O que era bonito a minha mãe recusava por causa do preço e o que sobrava por pouco dinheiro custava a passar pelas ancas ou não abotoava. Quando se fazia o balanço restava em cima do balcão peças onde nada batia certo: nem a cor, nem o formato.
A vergonha ia continuar depois, no início das aulas, quando me apresentasse naqueles modos à turma e à escola inteira dos Ilhéus, lugar que recebia os filhos de gente da alta. Pessoas que traziam tesouros das férias em Canárias e não poupavam nos manuais escolares, nem permitiam que houvesse confusões com os alunos da acção social escolar. Eu também não tinha escalão, mas quem me via com os livros esfolados e riscados não fazia ideia que tinham sido do meu irmão.
A escola, acho que todas as escolas nos anos 80, fazia julgamentos com base nas aparências. A hierarquia entre aqueles adolescentes que se juntavam em grupos pelo jardim, junto ao bar ou no muro que dava para o campo de futebol fazia-se consoante a mini-saia, os sapatos da Modelo, os cadernos caros e as borrachas com cheiro, mais o resto que se tinha em casa. E era óbvio que aqueles sapatos, aquelas roupas e o fato de treino cor de tijolo e cinzento não me atribuíam grande valor.

Lembro-me que, depois, à noite e em casa, a meio das caixas e do papel de embrulho, tentar minimizar o estrago que as ideias fixas da minha mãe e o pouco dinheiro faziam. Talvez se fosse com aquela saia, talvez com esta blusa, talvez o meu cabelo cortado à moda me safasse do pior e se juntasse o perfume e os brincos emprestados da minha prima Ana. Talvez assim fosse quase normal.
Apesar do medo que me dava, da sensação estranha que me tirava o sono antes do primeiro dia de aulas, eu ia com gosto apanhar o autocarro das sete e meia e tinha esperança no ano que ia começar. Aqueles últimos dias de calor de Outubro davam para vestir a roupa de verão e mostrar o resto do bronzeado, enquanto podia tentar perceber como funcionava o mundo além da missa ao domingo e do grupo de jovens.
Eu podia ter pouco para contar de três meses a arrastar-me por casa, mas as outras raparigas traziam histórias brilhantes, repletas de novidades, do que era e não era moda, o café onde era obrigatório parar, as melhores matinés das discotecas e quais os filmes que se devia ver no Cine Casino, os que valiam a pena desviar as moedas esquecidas em cima da mesa da sala. Também sabiam de lojas com roupa bonita e barata, falavam de cantores da pop e da música que se ouvia na rádio.
Aquelas conversas eram uma porta para o que havia por aí, um relato de como se podia viver de uma maneira diferente do Laranjal. Nem todas as raparigas entravam para casar aos 20 anos, algumas iam estudar para ser professoras, médicas e advogadas e iam dançar nas matinés das discotecas. Os rapazes tinham mais preocupações do que comprar um carro e fazer uma casa, falavam de estudos, de arte, do sentido da música e dos filmes.
E nada disso os diminuía ou fazia mal. Lembro-me de ficar, ali, encostada no muro do campo de futebol, a imaginar esse mundo onde se podia ser tudo: estudar, dançar e perceber o verdadeiro sentido das letras das canções da rádio.