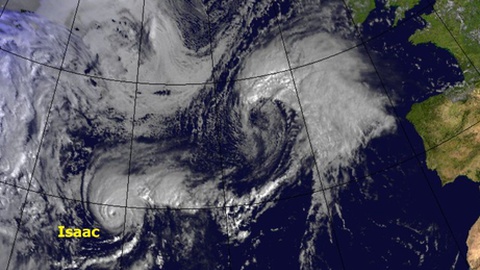Os ricos e nós
Os ricos existiam e, embora nunca os tivéssemos visto, a minha tia Alice garantia que havia muitos, a viver em casas de dois andares, entre criados, jardins bonitos e roupas elegantes. Eu não percebia bem de onde vinham aquelas ideias, mas a minha tia sabia contar histórias e conseguia retirar do esquecimento a miséria dos anos da guerra ou encher de alegria a casa do meu avô com a memória dos encontros de primos. Até os nossos mortos - a minha avó, o tio ‘cambadinho’ e o bisavô que durou 100 anos - eram convocados para aquelas quartas-feiras à tarde quando a minha mãe ia aos bordados e eu ainda não tinha idade para ficar por minha conta.
A tarde de quarta-feira vinha sempre carregada de tédio, custava a passar por mais que mexesse nos livros de banda desenhada e nas revistas velhas ou andasse abaixo e acima pelo quintal, fosse ver as galinhas ou ficasse debruçada na varanda a matutar naquelas histórias dos ricos. As pessoas viviam em casas parecidas às nossas: rectangulares, duas janelas, uma porta a meio e um terreiro cheio de orquídeas e azáleas. As miúdas da escola moravam certamente em lugares melhores e não se apertavam dentro do autocarro para chegar a horas, havia um carro que as deixava à porta. E isso, sim, combinava com ideia que eu fazia de um rico.

De que que se avistava dali, da varanda da minha Alice, sobrava um casarão com uma entrada larga, onde todos anos, na Primavera, floria um jacarandá. Eu sabia como era por fora, tínhamos ido lá uma vez numa expedição, fascinados por estar fechada, por ser bonita e ser tal e qual como nos livros de aventuras. A minha tia contava que tinham morado lá as tais pessoas ricas, que havia um carro e que a senhora, a dona Marita, era professora ou tinha sido. E tudo isso acontecera muitos anos antes de eu nascer. O que nós vimos nessa aventura foi um jardim com umas escadarias largas, um lago seco mesmo a meio e uma vista para os telhados da cidade e para o mar.
O jardim amplo e o lago estavam limpos, sem folhas ou ramos ou ervas daninhas a subir pelos muros, era como se tivessem deixado aquele lugar no dia anterior, mas o silêncio daquela casa sem gente fazia arrepios na espinha. O caminho parecia longe e tínhamos chegado por um atalho a meio dos pinheiros. Os ricos preferiam morar assim, a uma certa distância. A minha tia Alice também me tinha dito isso, que não havia misturas. As pessoas cumprimentavam-se na igreja, quando se cruzavam, mas os amigos que recebiam vinham de outros sítios, da cidade, às vezes de fora. E havia festas, com mulheres de chapéu e luvas, roupas bonitas, homens elegantes, que chegavam a pé ou vinham de carro.
Não era difícil imaginar as festas naquelas escadarias com um gramofone a tocar discos dos anos 40 e 50 e as pessoas como a minha mãe e as minhas tias a ver de longe, encantadas com tudo o que não tinham: nem as roupas, nem a electricidade, nem o gramofone. Para nós era apenas uma casa misteriosa como nos livros, mas não existiam aventuras sem fantasmas ou bandidos. E se estivesse algum à nossa espera no dobrar da esquina, atrás de uma porta ou se fizesse uma espera a meio dos pinheiros. Entre o que é este barulho e a sensação de ter alguém mesmo atrás das costas, sei que corremos dali a toda a velocidade e nunca mais lá voltei.
Muitos anos depois, aí a meio dos anos 90, entraram as máquinas no terreno para fazer lotes. A vida estava a mudar e o Laranjal não escapou à onda de construção, mas sempre que se fala em ricos lembro-me da minha tia Alice a contar as historias daquele casarão, das festas e das pessoas que lá iam e de como estavam tão longe de nós.