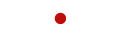O bom gosto
A minha mãe não era pessoa de guardar pensamentos ou opiniões
A casa onde cresci era uma versão - ao mesmo tempo confusa e modesta - do “menos é mais”. Os quartos tinham poucos móveis e a minha mãe não apreciava bonecos de loiça, pratos decorativos, quadros e demais bricabraque, nem sequer o religioso. As duas imagens do Imaculado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria desapareceram da cabeceira da cama antes de eu fazer 10 anos. A dona Celina, a única das cinco irmãs a quem os vizinhos não conseguiram encontrar um diminutivo carinhoso, despachou os santos e nunca admitiu a entrada de uma Nossa Senhora de Fátima.
A fé não precisava de imagens, estava na alma, essa coisa sem existência material que, segundo a minha mãe, vivia no nosso pensamento e dentro do peito e era capaz de sobreviver até à nossa morte. E algo assim dispensava figuras de barro a acumular pó para, no fim da história, aumentar o trabalho na limpeza de sábado à tarde. Na casa do Laranjal havia outras prioridades como engraxar os sapatos, varrer o quintal ou arrumar as linhas, os lençóis estampados ainda por entregar e toda a papelada dos bordados.
A Celina - sem diminutivo como a Alicinha, a Teresinha ou a Conceiçãozinha - bordava de segunda a sexta, recebia as mulheres dos bordados e fazia conversa que, no sítio, não havia pessoa tão bem falada como ela, uma senhora simpática a quem tinha calhado um rapazinho travesso e uma menina de feito atravessado. E faltava-lhe o tempo para manter a casa a brilhar e tão arrumada como a da minha tia Alice, onde dava sempre a impressão que não vivia lá gente.

A loiça guardada, a roupa passada e as camas feitas contrastavam com o furacão que, todos os dias, varria a nossa casa e a fazia parecer mais desconjuntada. Se a minha mãe somasse a tudo o que vivia fora lugar mais tralha então seria ainda mais confuso, mas não apenas por isso que no Laranjal tudo se limitava apenas ao essencial. Por debaixo daquela camada de desarrumação estava o gosto austero e elegante daquela senhora e só se revelava ao domingo à tarde, quando fazia desaparecer tudo o que andava por cima das mesas.
Às vezes, quando estava feliz e havia flores no quintal, arranjava jarras para o quarto de engomar e para a sala. “Está bonita, não está?” e repetia para o caso de não se ter reparado. A minha mãe não era pessoa de guardar pensamentos ou opiniões e gostava de ouvir os outros, de aprender, de conversar e falar e era leal às irmãs, às outras senhoras de meia de idade com quem cresci e que se juntavam pela tardinha em casa do meu avô. Lembro-me de as ouvir a falar umas por cima das outras e de achar isso espantoso.
Como era possível que se entendessem se falavam todas ao mesmo tempo, mas entendiam. Também havia discussões, brigas e amuos, mas nenhum foi alguma vez grave para justificar o corte de relações. As minhas tias foram sempre as minhas tias de um modo tão incondicional como o meu pai e o meu irmão eram meus, seriam sempre meus. As vozes acompanharam as minhas tardes de domingo e se fechar os olhos sou capaz de me lembrar dos vultos, das saias azuis escuras ou castanhas, aquelas cores neutras para dar com tudo, os cabelos com permanente e lá no meio a minha mãe.
Com a mesma austeridade a vestir e o cabelo grisalho arranjado à frente do espelho do quarto de engomar, sem permanente que, de todas as irmãs, foi a única a ter ondas, a ser a mais morena e a dispensar o diminutivo dos vizinhos. Era só a Celina, a mulher que me coube como mãe.