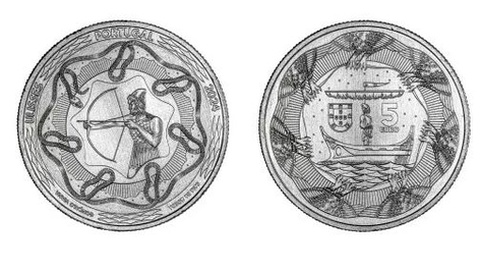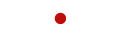Ser tudo o que se desejou
Qualquer jornalista aprendia depressa a anotar os números todos, os óbvios e os outros. O número de casa, do escritório, da mãe, da sogra e até do café onde parava depois do trabalho
Quando comecei a trabalhar, os jornalistas ainda acendiam um cigarro antes de escrever um texto e havia cinzeiros nas mesas, além de montanhas de papel e jornais velhos. Os telefones fixos davam sinal de vida a cada 5 minutos e a televisão estava ligada, quase sempre num canal de música e de onde só se mudava na altura do noticiário. Os canais de informação ainda não tinham chegado e os telemóveis eram uma excentricidade de pessoas com desejo de estatuto. Ou de médicos, mas esses viviam agarrados ao BIP, uma novidade com direito a anúncio de página inteira em todos os jornais e revistas do país.
O BIP não era bem um telemóvel, era um receptor para onde se mandavam mensagens urgentes via telefonista, mas era melhor do que aquilo que fazíamos quando a notícia do dia chegava depois das cinco e meia da tarde. As fontes, os protagonistas, enfim, as pessoas a quem tínhamos de perguntar, confrontar ou confirmar a informação entravam, depois dessa hora, numa espécie de buraco negro onde era quase impossível encontrar quem quer que fosse. Já não estavam no emprego e ainda não tinham chegado a casa.
Qualquer jornalista aprendia depressa a anotar os números todos, os óbvios e os outros. O número de casa, do escritório, da mãe, da sogra e até do café onde parava depois do trabalho. A vida, a meio dos anos 90, era analógica e os jornalistas trabalhavam com telefones fixos, uma agenda em papel e cassetes para gravar as entrevistas. Já se tinham trocado as máquinas de escrever por computadores, mas quando olho para trás e para o tempo em que comecei lembro-me do cheiro a tabaco, do fumo a sair dos cinzeiros e de como foi difícil vencer a timidez e ligar para casa de pessoas desconhecidas.

Olhar para trás, para o momento em que comecei a trabalhar, também me traz memórias de uma época em que existia uma linha a separar a vida pública dos assuntos privados, dois mundos que não se tocavam. As pessoas podiam desligar o trabalho como apagavam a luz do escritório para voltar a acender no dia seguinte. A não ser os jornalistas que, volta e meia, interrompiam a paz doméstica, o planeta estava livre de sms, correio electrónico, redes sociais e de tudo o que arrastam e ligam todos a tudo, sempre e até quando estamos a dormir. Também se falava de dependências, mas essas eram mesmo drogas e o mais esquisito que havia eram os que ficavam agarrados à televisão.
As influências vinham da televisão por cabo que, de um dia a outro, nos deu programas de manhã à noite e nos fez parecer como os americanos dos filmes. É que, na verdade, os anos 90 foram tudo o que tínhamos desejado: melhores salários, lojas modernas, comida de plástico, crédito para todos os projetos e mais para o fim telemóveis, computadores e internet. E isso levou o resto de romântico da redação, aquele ambiente de fumo e tralha pelas mesas, onde ainda se pensava à moda antiga e a edição fechava tarde. De uma certa maneira a profissão onde comecei há 30 anos não é bem a mesma, nenhum de nós é.
Fomos todos de alguma maneira engolidos pela tecnologia, mas eu tenho saudades daqueles anos em que era preciso coragem para ligar para a casa de alguém, ouvir uma voz, dizer ao que se vinha e tropeçar nas palavras por causa do nervoso. E não se fazia isso apenas por causa do trabalho. Também era preciso uma dose de inconsciência para ligar para marcar um café, para o primeiro passo para algo que não se sabia o que era, mas era qualquer coisa quando se tinha o número e se sentir borboletas no estômago ao ouvir o sinal de chamada.