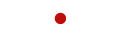Permanências, ruturas e recomposições
Foi o Edgar Silva que me deu a conhecer este livro e a honra de o apresentar em outubro passado. A obra, com mais de 140 páginas, constitui-se por quatro seções: I Parte – Guerra; II Parte – Descolonização; III Parte – Democracia; IV parte – Desenvolvimento, e foi publicada pela Universidade Católica Portuguesa. A introdução, feita por Paulo Rocha, da Agência Ecclesia, justifica de a importância que o Centro de Estudos de História religiosa da Universidade Católica Portuguesa teve para a existência deste trabalho.
Tenha acesso ilimitado a todos os artigos d+ e edições DIÁRIO e-paper
Assinar
Cancele quando quiser.