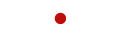Rien ne va plus (diz-se na banca da roleta ao fechar o jogo)
1. É novembro… e a Madeira, o arquipélago, que às vezes penso que flutua e outras vezes não, dança ao som de vozes roucas, de corredores compridos, de gabinetes cheios de silêncios tão densos que se podem cortar à navalhada.
A moção de censura — dizem, murmuram, sussurram entre colarinhos apertados e gravatas que pressionam gargantas — foi lançada ao ar por um partido que, se tivesse cor, seria um cinza de gritos e de raiva.
Tenha acesso ilimitado a todos os artigos d+ e edições DIÁRIO e-paper
Assinar
Cancele quando quiser.