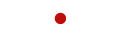Deixamos tudo correr?
O fim último da acção política é a construção de uma sociedade nova, na qual cada um possa realizar-se como pessoa na Liberdade, na Igualdade e na Fraternidade com todos os demais cidadãos, participando democraticamente na vida cívica, cultural e económica das comunidades, para ela contribuindo com o seu trabalho e dela extraindo as condições necessárias para uma vida digna. Por outras palavras, a edificação de uma comunidade humana e justa, e não um país com riquezas, oportunidades e sucessos para apenas alguns.
Tenha acesso ilimitado a todos os artigos d+ e edições DIÁRIO e-paper
Assinar
Cancele quando quiser.