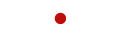Todas as noites ao adormecer
E foi com a luz da mesa de cabeceira que aliviei aquele pavor de adormecer sozinha no meu quarto
Eu cresci na fazenda num tempo em que as crianças andavam mais ou menos à solta pelo caminho, a fazer o que lhes apetecia. Uns desciam a ladeira em carros de caixas de esferas; outros saltavam em cuecas para dentro dos poços e nós fazíamos excursões à ribeira ou corríamos atrás de ninhos.
A ribeira era um lugar fresco, com água limpa e rãs grandes, castanhas e muito escorregadias. Não era fácil caçar uma, das mais feias, para largar a meio das mulheres que vinham buscar bordados. Ou para assustar a minha tia Conceição. As minhas tias e a minha mãe eram mulheres sem cerimónias, daquelas que não tinham medo de ratos, baratas ou lagartixas.
Nunca as vi gritar, não fariam outra coisa naqueles quintais de modo que a única que se arrepiava era mesmo a minha tia Conceição, que era capaz de ir ao fim do mundo sozinha e fugia de sapos, mas, percebi depois, cada um carrega os seus medos. A maioria sem explicação. E eu, a menina gordinha que corria e caía atrás do irmão, que caçava o que fosse preciso com a mão, tinha medo do escuro.

E as noites da minha infância tinham tanto de silêncio como de escuro, o que assim somado tornava tudo mais estranho, sobretudo quando o meu irmão decidia contar-me histórias de fantasmas, de demónios à solta, de almas penadas, seres de outro mundo que, segundo dizia, tinham o mau hábito de aparecer de noite, com as luzes apagadas apenas para atormentar os vivos.
No escuro, com a cama virada para a janela do quarto, naquela curva de caminho sem iluminação pública, era difícil quando o sono custava a chegar. As noites eram cortadas por um ladrar de um cão ao longe e pelos faróis dos carros. As luzes rodavam dentro do meu quarto e mostravam a sombra escura do guarda-fatos, dava a ideia de ter ali um monstro. E eu resistia, cheia de medo.
Da rua vinha o som da água na ribeira e do quarto dos meus pais, a porta que ficava do outro lado do corredor, chegava o ressonar do meu pai. A casa era a mesma, mas a noite, as histórias das feiticeiras que levavam homens adultos ao colo e faziam esperas nos cruzamentos, os velhos que roubavam crianças e as almas perdidas que vinham cobrar missas, tudo isso fervia dentro da minha cabeça.
Talvez fosse melhor ter medo de lagartixas ou de rãs como a minha tia Conceição, mas a mim calhou-me o medo do além, do mundo que, na minha imaginação, eu acreditava que existia nas sombras, naquele silêncio que há nas casas no meio da fazenda. E eu, que comia bem, tirava boas notas, enfrentava os adultos e andava à porrada quando me chamavam gorda, tinha medo do escuro.
Aquele mundo, onde o escuro dava medo, estava a desaparecer, assim como as histórias que trazia de fantasmas e monstros e coisas sem explicação. A ciência, a iluminação pública e, sobretudo, o conselho da minha tia Alice que me explicou que as almas tinham medo da luz e da electricidade. E foi com a luz da mesa de cabeceira que aliviei aquele pavor de adormecer sozinha no meu quarto com um cão a ladrar de longe a longe e a água a correr na ribeira.