Salazar, Salazar, Salazar
Como eu gostava de ver os pobrezinhos a pedir esmola. Aquela gente iletrada, descalça, a calcorrear os caminhos a pé para irem a uma consulta a mais de 20 quilómetros. Um país alucinado onde as pessoas viviam presas numa mentira. Por todo lado a fome que não matava, mas moía. Um país que mandava os seus filhos para a escola com sopas de cavalo cansado no estômago e de onde regressavam em perfeita iliteracia. Uma taxa de analfabetismo descomunal (60% nas zonas urbanas e chegando aos 80% nas rurais). Uma mortalidade infantil com um rácio de quase 150/1000 (quando hoje temos uma das mais baixas do mundo), que se explica principalmente por uma alimentação deficiente, pois não atingia nem a metade do que se entende ser o valor nutricional mínimo. Na ausência de médicos e enfermeiros, recorria-se a endireitas, bruxas, a mezinhas e a chazinhos.
No norte a broa era a base da alimentação, reforçada aqui e ali com uma sopinha de qualquer coisa e uma latinha de conservas. A história da sopa de pedra, se pensarmos bem nela, é dramática. A sul, o pão de trigo e uma água aquecida com umas ervas para dar sabor e muita imaginação dos alentejanos, fazia a mesma vez. E entre nós o milho-cozido, acompanhado com nada na maior parte das vezes, e noutras com umas cabeças de espada a boiar em água com uma ervilha aqui e ali, a que nem nos atrevíamos a chamar caldeirada. E vinho. Muito vinho de paupérrima qualidade que nos punha nos níveis mais elevados de alcoolismo da Europa ocidental e, ao mesmo tempo, nos colocava na lista dos piores vinhos produzidos. Quem não se lembra, até porque aí ainda anda, do jaqué das castas americanas, que não mata, mas destrói?
A esperança de vida à nascença, nos meados do século XX, pouco ultrapassava os 60 anos. A Suécia, na mesma altura prometia cerca de 75. Hoje ao nascermos podemos esperar viver cerca de 80 anos. Éramos muito mais baixos do que somos hoje, devido à fome e à desnutrição.
No mundo rural, quartos de banho quase que nem os havia nas casas, quanto mais nas quase barracas onde vivia o povo. Nem água canalizada, nem electricidade, nem esgotos, nem gás. Insalubridade e subnutrição faziam com que a principal causa de morte fossem as diarreias, as enterites e a tuberculose (dois tios meus morreram com ela, privando que os tivesse conhecido). Ainda tenho bem presente na memória a ocorrência de surtos de cólera ocorridos no início dos anos 70 nos miseráveis bairros da lata ao redor de Lisboa. Não havia estradas, não havia médicos, não havia hospitais, nem centros de saúde. Não havia informação, a cultura era residual e do regime.
As escolas foram construídas sem pensar quem iam servir. Eram muitas as crianças que só lhe acediam após horas a calcorrear montes e serras. Ensinar a ler e a escrever chegava. Ensinar a perceber era perigoso. Continuar a estudar, para além dos estudos primários, era uma miragem para a esmagadora maioria dos portugueses. Nas escolas primárias usava-se o castigo físico: a chapada, o carolaço, a reguada, a menina-de-cinco-olhos. Nos Liceus, uns eram masculinos e os outros femininos. A educação, ferramenta fundamental para a subida na escala social, não era para todos.
Uma polícia política que criou uma rede de bufos e que fazia com que muita gente até medo de pensar tivesse. Prisões arbitrárias, tortura. Assassinatos e campos concentracionários. Tribunais Plenários onde o conceito de justiça pura e simplesmente não existia. E o “lápis azul” a cortar tudo o que pudesse ser publicado que maculasse a imagem do governo. Era comum, livros, músicas, desenhos e notícias serem apreendidos por porem em causa, diziam, o regime, a ordem pública. A ideia, aquilo que é o mais importante que um povo pode ter, era autorreprimida em todo o lado.
Não havia permissão para manifestações e o direito a associação e reunião era altamente restringido. As pessoas não se podiam juntar em grupo para conversar. As eleições eram ridículas, serviam somente para que o regime se autojustificasse. Só algumas mulheres e em condições muito especiais podiam votar.
O estatismo era total e absoluto. O Estado protegia os interesses de quem apoiava o regime e criava problemas a quem lhe era alheio. Reinava um enorme proteccionismo comercial aos grandes empórios que impedia os portugueses de terem acesso a produtos mais baratos e de melhor qualidade. Exportava-se muito pouco, pois a qualidade da maioria do que produzíamos era paupérrima.
Em 1931, o Banco Nacional Ultramarino foi objecto de um resgate milionário feito pelo Estado. Os accionistas privados perderam 75% do capital. Relembra-vos alguma coisa?
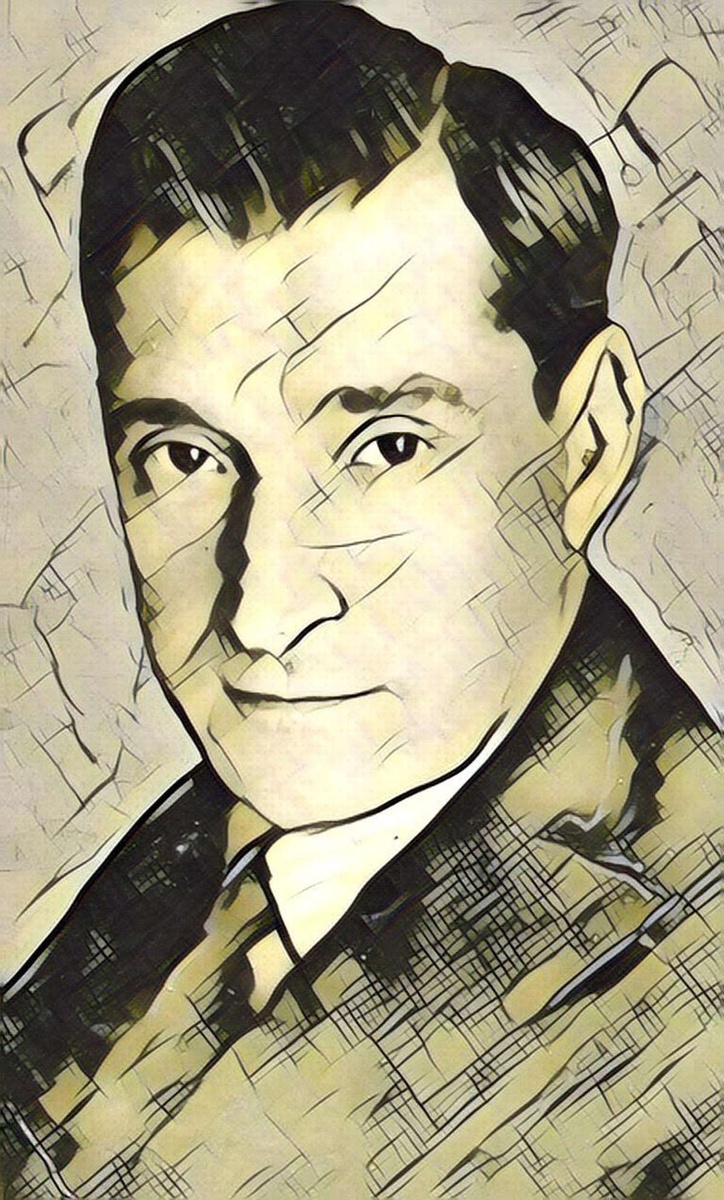
O salário médio de um operário nem dava para três quartos das necessidades alimentares, como o reconheceu Ferreira Dias Júnior, um homem do regime que foi Ministro do Comércio e Indústria.
Uma professora ou uma enfermeira, precisavam de ter autorização do estado para se poder casar. As mulheres só podiam sair sozinhas do país se tivessem uma autorização por escrito do marido.
Construiu-se um país onde era proibido ir de mini-saia ou de calças à boca-de-sino para o liceu (vivi isto), onde era proibida a homossexualidade, que era considerada “uma doença mental, tratada no manicómio” e onde se “permitia ao marido matar a mulher em flagrante adultério”, mas condenava se o contrário acontecesse.
E os escândalos do regime: o Ballet Rose, que viu altas figuras envolvidas num escândalo de abuso de menores, saírem dele incólumes; a corrupção que ainda hoje aí anda e que vêm desses tempos. A corrupção era uma instituição durante o Estado Novo. Proibir era a palavra preferida. Ou estávamos com eles, ou contra eles, e logo éramos comunistas.
Cerca de um milhão de portugueses fartaram-se e emigraram, construindo lá fora um futuro que lhes era negado em casa. Um êxodo de proporções quase Bíblicas. Quase 15% da população portuguesa emigrou entre os finais dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60.
No sul grandes propriedades fechadas e sem nada cultivado. E a norte a pequena propriedade tratada ao modo de antanho a produzir metade ou menos do que poderia fazer. Por cá a quase escravatura da colonia. Não se investiu um escudo que fosse na modernização da agricultura. Quando se tentou industrializar o país, saíram as trapalhadas dos megaprojectos de Sines e da siderurgia nacional.
As cheias de 1967 são a demonstração cabal da miséria em que vivia o país. Casas de cartão, de latão, de alguns tijolos amontoados sem a argamassa que os sustentasse, foram facilmente arrastadas pelas águas, com tudo o que tinham dentro. Cerca de 20 mil casas (se assim lhes podemos chamar) destruídas.
Uma guerra longa de 13 anos que matou e estropiou milhares de jovens portugueses. São imensos os que vivem connosco que são portadores de “stress” pós-traumático, que não os deixa viver em paz. As famílias com mais recursos, as do regime, conseguiam evitar que os seus “meninos” fossem para a guerra. Eram os sucessivos adiamentos porque estavam a estudar e quando já não havia como adiar, com os conhecimentos certos e uns escudos bem colocados, iam para a tropa, mas acabavam nos serviços de administração ou na manutenção militar. E assim, mesmo que descessem para a Guerra Colonial, ficavam longe das frentes de combate.
E depois os cofres cheios de ouro. Roubado aos judeus pelos nazis que o vendiam aos suíços e que o precisavam de revender mais barato, para que assim se perdesse o seu rasto. Esse ouro que mora no banco de Portugal e que está, muito dele, decorado com suásticas.
Um país onde só houve segurança social no final dos anos 60. Onde o trabalho infantil era mais que muito, onde se marginalizavam os deficientes, onde os idosos sem família morriam de fome, tristeza e abandono no meio de tugúrios a cair aos bocados sem qualquer tipo de condições de habitabilidade.
É esta gente valorosa e explorada que criou o mito do impoluto, do verdadeiro português, responsável pela fome de um povo, pela sua incultura, pela pobreza, por este bucolismo onde a saudade de algo que não se sabe se sequer existe é o mote e o sentido de vida. Aos antepassados que deram novos mundos ao mundo sucedeu um povo medroso, merdoso e encolhido. Conservador no pior dos sentidos. Éramos, pois, um povo simples, mas feliz, humildes, conformados, reverentemente de chapéu na mão, moralistas e fatalistas, generoso e autossuficiente…
Dizer que antes do 25 de Abril os portugueses viviam melhor que hoje, é um abuso e um insulto. O que tínhamos era miséria e uma ditadura implacável que não perdoava a dissidência. Que o hoje tem muitos defeitos? Claro que sim. Demasiados mesmo, mas só o facto de o podermos dizer alto e em bom som, indicia o quanto melhor estamos.























