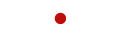“Portugal three points; Portugal trois points”
A nação tinha encolhido e, nós, os madeirenses, fazíamos ainda parte desse país que sobrava e, por isso, a minha mãe torcia pelas cores, fosse no futebol ou na Eurovisão
O festival era assim um campeonato de canções e mexia com o orgulho nacional, até lá por cima no Laranjal, recanto anónimo do país, longe da vista da gente da cidade e a muitos quilómetros do continente e de todos os lugares importantes. As pessoas dali eram, salvo um ou outro detalhe, como a minha mãe e as minhas tias e sabiam da existência de Portugal pela rádio e pela televisão, os mesmos meios que as informaram da queda do império. Já não havia o Ultramar, nem Timor, nem Goa, Damão e Diu.
A nação tinha encolhido e, nós, os madeirenses, fazíamos ainda parte desse país que sobrava e, por isso, a minha mãe torcia pelas cores, fosse no futebol ou na Eurovisão. Se jogava mal ou a canção não era boa, a minha mãe costumava dizer que não era por isso que se perdia sempre, era por sermos assim, portugueses, pobres, por sermos um bocado de terra esquecido da Europa. O país era mais ou menos como o Laranjal, uma curva de caminho escondida e sem iluminação pública.
Os factos não impediam a minha mãe e todos os adultos de renovar as esperanças na canção portuguesa na Eurovisão. Nos anos da minha infância e adolescência não se perdia a fé tão depressa, não se desistia mesmo quando se vinha de lá – de uma capital europeia rica e sofisticada – com zero pontos ou pouco mais e um artista a tentar manter a dignidade no aeroporto de Lisboa, onde havia um repórter da RTP a fazer perguntas. Aquilo custava a engolir, era como que uma maldição.
Mas a esperança renovava-se todos os anos e, na rádio, a nossa canção rodava sem parar. Lembro-me de como dividia opiniões e de ouvir as conversas dentro do autocarro, daqueles com janelas empenadas e portas que já não fechavam. Se a música era alegre e a letra mais tola, havia mais entusiasmo, era adequada e iria animar o júri dos outros países. Se não entendiam a língua, talvez lhes agradasse a melodia, acreditavam os lojistas e empregados de escritório que apanhavam o 12 para ir a casa almoçar.

As opiniões mais pessimistas eram para as canções tristes, inspiradas na saudade e no fado, que até podiam dizer muito, mas de certo iriam aborrecer as pessoas das outras terras, que não entendiam a nossa melancolia, nem a razão de sermos tão fatalistas numa terra com tanto sol e calor. Para o povo que apanhava o horário do Jamboto a saudade era mais do que um conceito, era a vida de todos os dias. Tinham saudades dos irmãos, dos primos, dos amigos e, às vezes, do pai ou da mãe.
Essa multidão que se lançara no mundo atrás de trabalho e dinheiro e deixara atrás de si uma dor que não se partilhava. O vizinho sentia o mesmo, não valia a pena lembrar que o pai, a prima, o noivo ou amiga do tempo da escola estavam embarcados e só davam notícias às vezes, por carta ou telefone. E, naqueles anos de escassez e falta de tudo, não havia quem quisesse lembrar o que sentiam. Tristes já eles estavam, viessem cantigas para animar, mas sei que teriam gostado de ganhar de qualquer maneira.
Eu teria gostado como a minha mãe, a minha prima e as pessoas que apanhavam o mesmo autocarro. E como teriam sido diferentes as conversas depois, no autocarro, na segunda-feira seguinte, mas não pode mudar a história, nem as memórias. Do que me lembro, além de ver as roupas e ouvir as cantigas, é daquele calvário da votação, dita em inglês e francês e que não tirava Portugal no fim da classificação. Uma vez por outra ouvia-se “Portugal ten points; Portugal dix points”, mas durava pouco a esperança e a minha mãe dizia sempre: para o ano vai ser melhor.