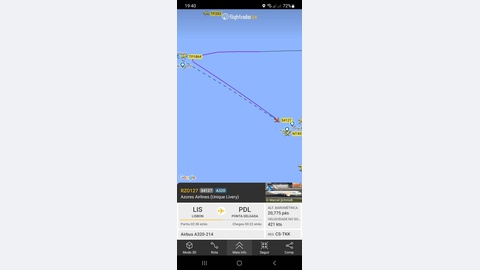Um prédio às riscas
Até eu, que duvidava das capacidades do Menino Jesus para entregar os presentes no Natal, guardava respeito à régua com olhos em cima do armário
Eu sentava-me na segunda carteira da fila dos bons alunos, tinha lá ido parar quando o professor decidiu organizar a sala da 1.ª classe pelos resultados. Os melhores ficavam do lado esquerdo, os médios ao meio e do lado direito, junto às janelas de onde se via o mar, estavam os casos perdidos, assim mesmo de frente para a secretária do homem excêntrico, já grisalho e bronzeado pela brisa marítima, que nos ensinava Português, Matemática, Desenho e Estudo do Meio.
O professor Baltasar era estranho, contava muitas histórias e confundia as cabeças das crianças e das mães das crianças naquele Laranjal feito noutros costumes e com ideias precisas sobre o que era aprender. Os filhos, queixavam-se elas, nunca iam saber ler ou escrever ou contar se não lhes mandava trabalhos para casa, se passava tanto tempo entretido com conversas absurdas e os ocupava com ideias como a de construir uma cidade feita de embalagens de cartão.
Se davam erros, se mal conseguiam assinar o nome e já se ia quase a meio do ano a responsabilidade só podia ser dele, que não ensinava coisa que se visse e era poupado na régua. Ela estava lá, a régua dos castigos, mas em cima do armário das cartolinas e do papel de lustro, tinha-lhe desenhado uns olhos e uma boca e garantia que nos via e ouvia quando nos queria manter calados.

Até eu, que duvidava das capacidades do Menino Jesus para entregar os presentes no Natal, guardava respeito à régua com olhos em cima do armário. O mesmo armário de onde tirámos o material - a cola e as cores de feltro – para iniciar esse projeto de fazer uma cidade com caixas de cartão de medicamentos. Lembro-me que trouxe muitas, eram das pastilhas que a minha mãe tomava e havia de fartura na nossa casa.
E cheguei feliz, com aquelas caixas todas e pronta para construir uma cidade, mas eu só tinha visto uma cidade de raspão, quando a minha mãe me trazia para a consulta da caixa e para acertar o tamanho das botas ortopédicas. Ou melhor, tinha uma vaga ideia de prédios, sobretudo de consultórios médicos, e, na minha cabeça, as pessoas viviam em casas de um piso só, com um terreiro de cimento ou calcetada com pedras do calhau, rodeadas de vasos de orquídeas e a onde só se chegava depois de passar um portão e descer – ou subir – umas passadas.
As passadas da entrada como se dizia no Laranjal dos anos 70 e que a mim me parecia o modelo de casa, lá em cima e onde fosse que houvesse pessoas. O desafio de fazer uma cidade com prédios altos e com muitas janelas e apenas uma porta era mais complicado do que aparentava. Além da delicadeza e do cuidado que obrigou a ter para virar ao contrário sem rasgar aqueles cartões todos, o professor Baltasar depressa descobriu que até eu, da fila dos bons alunos, sofria de falta de Mundo.
Eu fiz tudo como me mandou, virei ao contrário para não se ver as letras, colei com cola UHU sem pegar nos dedos e desenhei várias janelas, todas bem alinhadas como eu tinha visto nos desenhos animados da televisão. O professor, depois, disse que devia pintar e eu assim fiz, mas pintei cada andar de uma cor, como se aquilo, de facto, fosse uma casa como a minha e a dos meus vizinhos, em que cada um escolhia a cor como queria ou então não pintava. Não sei o que me envergonhou mais: se o espanto do professor, se a repreensão ou ter percebido a minha ignorância depois de apresentado aquele prédio às riscas.
Eu sabia todas as fases dos girinos até chegar as rãs e como os pintainhos nasciam depois de três semanas debaixo da galinha, mas nunca tinha visto um prédio, nunca tinha estado dentro de um, daqueles onde viviam pessoas. E por isso, nesse dia, subi o caminho cheia de vergonha, não havia edifícios às cores.