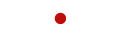O direito de ser diferente
Fala-se imenso em igualdade, em direitos humanos e em inclusão. No entanto, há uma tendência da sociedade em catalogar as pessoas, associando o que se denominam como fórmulas de sucesso ao que se conquista pra fora. Fala-se em aceitar as diferenças, num tom generalista. Muitas vezes, como se essas diferenças tivessem que, necessariamente, estar associadas a alguma diversidade funcional. Mas esquece-se das diferenças individuais, que nos tornam seres humanos únicos.
Tenha acesso ilimitado a todos os artigos d+ e edições DIÁRIO e-paper
Assinar
Cancele quando quiser.