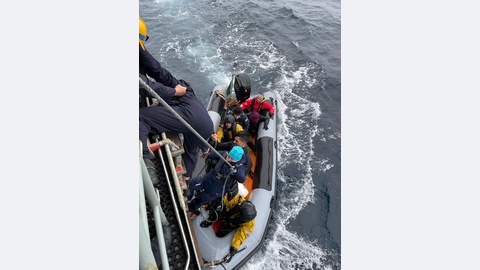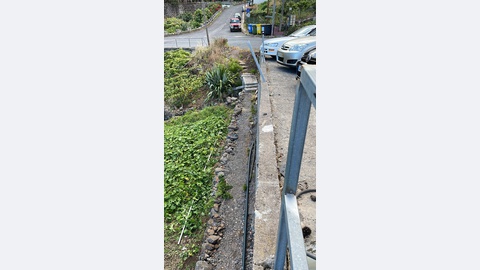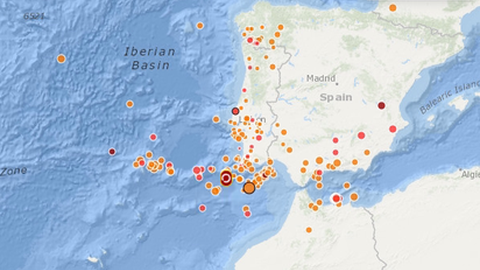A ilha
Às vezes sonhava que estava de volta, que era possível voar e atravessar o Atlântico, que se podia dispensar os aviões e chegar em minutos de Lisboa ao Laranjal, só para abraçar e tocar
“Não tens saudades? Nunca te lembras de casa?” A minha mãe estranhava, de que material seria a filha, aquela jovem de óculos que passava as férias de Verão a ler à sombra da laranjeira do quintal sem queixas de Lisboa. Não ouvia lamentos, nem sequer por causa da comida da cantina e dava-lhe medo. A inquietação aumentava com as histórias que se contavam naquele entra e sai das mulheres dos bordados, onde era mais ou menos garantido que os estudos consumiam o juízo, sobretudo às raparigas novas em idade de casar e ter filhos.
A conversa fazia-se em jeito de aviso, que a pequena estava magra e andava sempre enfiada nos livros e não era lá muito alegre, nem faladora. As mulheres desciam a entrada e a minha mãe vinha procurar os sinais. A minha cabeça estaria prestes a rebentar ou ficaria sã até ao fim do curso, dava para aguentar a vida de longe de casa, sem carinho e atenções. “Então nunca tens saudades”? Eu abanava-me com as perguntas, que tinha 20 anos e a saudade era para velhos. E a minha mãe não ia entender.
Eu tinha muitas saudades, até doíam. Faltava-me o calor que colava a roupa às costas e não tinha a fazenda, de onde o meu pai trazia cachos de banana, anonas, abacates, nem era possível subir ao terraço para avistar o mar e os telhados das casas da cidade. Às vezes sonhava que estava de volta, que era possível voar e atravessar o Atlântico, que se podia dispensar os aviões e chegar em minutos de Lisboa ao Laranjal, só para abraçar e tocar. Faltava-me a família, tudo o que tinha sido a minha vida, mas faltava-me também a terra, a ilha.
Mesmo que, nesse tempo, me parecesse estúpido ter saudades. Eu queria ser do mundo, ainda que fosse perigoso e imprevisível, achava-me preparada para dispensar o aconchego madeirense. Acreditava que seria capaz de mudar tudo, de ser outra e construir a minha história longe, bem longe do abraço que acolhe e sufoca, do paraíso cujo verso é feito também da mesquinhez dos lugares pequenos. E talvez, se tentasse com muita força, seria capaz de perder o meu jeito de ilhéu, isolado, tímido e inseguro, que poderia dar-me antes de todos os atalhos, becos e veredas que as gentes das ilhas se obrigam a percorrer até mostrar o coração.
Se tinha saudades? Nunca as confessei, a minha mãe não ia entender e havia uma vida nova, livre e independente para ser vivida em Lisboa. E lembro-me que regressei da faculdade contrariada, que passei os primeiros anos a sonhar com a oportunidade de ir embora, que me queria libertar, que a ilha parecia uma amarra, um lugar onde se voltava sempre ao mesmo, a encontrar as mesmas pessoas, a ter uma existência sem surpresas. O que era interessante e empolgante estava a acontecer noutro lugar, a muitos milhares de quilómetros de distância.
E passaram anos até perceber que não há maneira de fugir do que somos. Eu sou daqui, tenho o sotaque e o modo de ser.