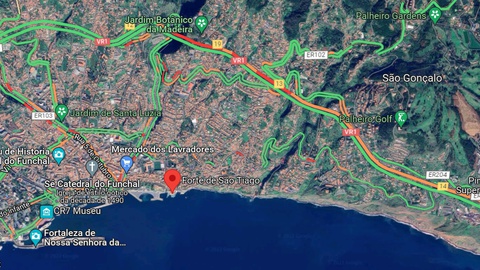A era dos (ir)responsáveis
Hoje, governar é uma atividade – e arte – que se desenvolve cada vez mais debaixo de um ambiente de diminuta confiança
1. Está já normalizado que um “bom” político é aquele que se preocupa com o presente, mas também alguém que deixa obra para o futuro, seja ela estruturante ou megalómana, prioritária ou acessória, útil ou supérflua, resultado de (mais) endividamento público ou subsidiada a custo zero por fundos comunitários… o importante é algo acontecer (“fazer”, anunciava, recentemente, um outdoor partidário), independentemente da vontade dos seus concidadãos e da realização de qualquer consulta a estes. Dito por outras palavras, todo o político gosta de – e ambiciona – ter o seu nome numa placa inaugurativa de uma generosa e duradoira obra pública, mas não considera (ou se interroga) como é que as gerações futuras (daqui a 40 ou 50 anos) julgarão os efeitos das suas realizações, ainda por mais quando serão elas a ter de pagar os custos financeiros, paisagísticos e/ou ambientais das mesmas. Se a política é uma forma de fazer as coisas “com as palavras” (melhor, com o capital arrecadado através de impostos), então o atual e elevado grau de negativismo que a caracteriza deve-se a múltiplos e diferentes fatores, mas quase todos eles vão desembocar numa gestão irresponsável que os governantes fazem da ‘res pública’ e dos (exíguos) recursos disponíveis que são pertença de todos.
Hoje, governar é uma atividade – e arte – que se desenvolve cada vez mais debaixo de um ambiente de diminuta confiança e, durante o seu exercício, a palavra “responsabilidade” (oriunda do Direito e não da Filosofia) parece ficar natural e insensatamente órfã. Alguns ignoram-na enquanto outros fogem dela, descartam-na, esquivam-se ou rejeitam-na, pelo que todos os dias perde força ao ser levianamente invocada pelos ‘parasitas’ do costume e o seu (ainda) suposto valor degrada-se a cada dia que passa.
Na linguagem corrente, a raiz da palavra responsabilidade significa (ou determina) a qualidade – e obrigação – daquele que é capaz de responder pelos seus próprios atos e efeitos, aceitando as inevitáveis consequências, pelo que é intransmissível. Do latim respondere, quer dizer «responder», mas também acarreta um comprometer-se perante alguém, o que inclui um retorno, para não mencionar uma pluralidade de perspetivas, desde a jurídica (civil ou criminal), sociológica, moral, política, individual… e até a religiosa. Entretanto, precisamos aqui de sublinhar outros conceitos fundamentais: a responsabilidade envolve também distintos ingredientes como a consciência (noção de sentido de dever [I. Kant]), o poder e a causalidade. Esmiuçando com mais algum pormenor, a noção contém a ideia de uma relação causal (causa-efeito) entre um agente e os seus atos, sejam eles reais, atos de palavra ou de escrita e esta cadeia causal pode ser mais ou menos extensa, pode cruzar-se com outras séries causais, mas nela existe sempre alguém que é identificado como agente, o autor da ação (o quem), o responsável, acusado, o culpado no caso da imputação de um erro, engano ou crime. Ora, em Portugal quando uma decisão política (difícil) resulta em sucesso, num triunfo, em mais prosperidade para a comunidade, num grau superior de ‘felicidade’, as elites governantes e responsáveis aparecem logo na primeira fila e pavoneiam-se, mas quando os resultados não são o esperado, quando as dificuldades, os casos/escândalos, as ocorrências e negligências surgem, então ninguém assume e responde por nada. Os ilustres soberanos “afastam-se” de todas as causalidades e negam a consciência da relação entre o seu ato e todos os efeitos gerados. Em suma, o (ir)responsável evita qualquer vínculo com a situação ou então cria uma teia ou narrativa (argumentação) através da qual atesta a sua não responsabilidade. Se o cidadão responsável aceita, reconhece e até manifesta aquilo que fez, que não fez e/ou aquilo que impediu de fazer, já o político (ir)responsável depressa se liberta do pesado fardo da culpa, transfere o erro/falha para o “sistema” (nas últimas crises financeiras, a culpa recaiu sobre os “mercados”), ignora ou descarrega o comprometimento no azar/destino ou em terceiros, quando a implicação não morre solteira. É assim desde há décadas e parece que a cultura da irresponsabilidade (e inimputabilidade) já é a dominante, pois neste cantinho à beira-mar plantado, ao que parece, nunca ninguém fez, viu, sabe ou se lembra de nada, ou seja, aqui nada acontece.
2. Diz (e bem) o provérbio popular que “não há regra sem exceção” e, nesta matéria, temos obviamente de reavivar o gesto notável e singular – raríssimo na nossa democracia – do ex-ministro do Equipamento Social e empresário, Jorge Coelho, que em março de 2001 assumiu “em plenitude” a responsabilidade política e administrativa pela tragédia ocorrida em Entre-os-Rios, que originou 59 mortos, sem qualquer hesitação e/ou dúvida e “em cima do acontecimento”, alegando que “a culpa não pode morrer solteira”. Mas a exceção é impraticável no modelo de sociedade que edificámos e no qual alegadamente gostamos de viver, e a regra (quase) hegemónica da irresponsabilidade – que não é um cânone seguro e proveitoso – transita agora de geração em geração como o “paradigma” a adotar. Existem vários casos/eventos desta “regra” que aprecia, normaliza e até louva o erro, a falha, o lapso, a negligência ou inércia, alguns mais recentes, outros mais remotos. Por exemplo, o nosso país tem hoje cerca de 2 milhões de pobres (um quinto da sua população) e um em cada dez trabalhadores está em situação de pobreza; ‘usufruímos’ da sexta eletricidade mais cara da União Europeia e, em 2021, as famílias portuguesas pagaram o segundo preço mais caro de gás natural na UE; registamos, lamentavelmente, todos os anos, largos milhares de jovens licenciados que deixam o país, pois encontram na emigração a única solução para fazerem face à dificuldade de obterem um emprego qualificado e um vencimento que lhes permita viver; perdemos, nos últimos 10 anos, 2% da população portuguesa e há cada vez menos nascimentos e o grau de envelhecimento da população é cada vez maior, sendo que continuamos à espera de uma política demográfica competente para o país; continuamos a fabricar (e pagar) estudos para a localização de um novo aeroporto em Lisboa e não temos ainda – pior, estamos bem distantes de vir a possuir – uma linha de alta-velocidade (TGV) que ligue Lisboa a Madrid e depois ao centro da Europa; infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde deteriora-se a cada ano que passa e agora encerram-se as urgências de algumas especialidades porque faltam médicos nos serviços (Ginecologia e Obstetrícia); faltam professores e precisamos de perto de 3500 docentes por ano para suprir as necessidades futuras das escolas, isto se quisermos que muitos alunos não fiquem sem aulas a algumas disciplinas; como era esperado, o nosso país desceu de categoria no Índice de Democracia elaborado pela The Economist, deixando de ser “totalmente democrático” para regressar à categoria de “democracia com falhas”; em plena crise climática, inaceitavelmente não cumprimos nenhuma das metas para os resíduos urbanos e estamos, até ao presente, muito longe de chegarmos ao objetivo dos 55% proposto pela Comissão Europeia, para 2030; vergonhosamente, e de acordo com as palavras do próprio presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, o fisco perde acima dos 1000 ME (cerca de 1% do Produto Interno Bruto), por ano, em evasão fiscal (offshores); dramaticamente, em junho de 2022, o endividamento das contas públicas volta a atingir um novo recorde histórico, cerca de 279 mil milhões de euros (temos a terceira maior dívida pública da UE); inadmissivelmente, a nossa Justiça continua a ser lenta (tem milhões de processos pendentes), cara ou inacessível – além de difícil compreensão – para uma boa parte dos cidadãos; e algo que até há poucos anos era inconcebível, todos os dias o populismo e a ideologia de extrema-direita ganham terreno fértil em território nacional e ninguém se compromete, empenha e diligencia uma estratégia crível para alterarmos o rumo destes e outros indesejáveis e desastrosos factos que hipotecam o (nosso) futuro. A este propósito, talvez José Rentes de Carvalho – escritor de ascendência transmontana pouco lido e conhecido entre nós – tenha razão ao afirmar que o atual regime e “a política portuguesa é totalmente desinteressante e triste. Não há uma elite que tenha capacidade (ou vontade) de pôr o país a melhorar, porque a elite dá-se muito bem com a situação que tem desde o tempo da monarquia até hoje e acha que está tudo muito bem assim”.