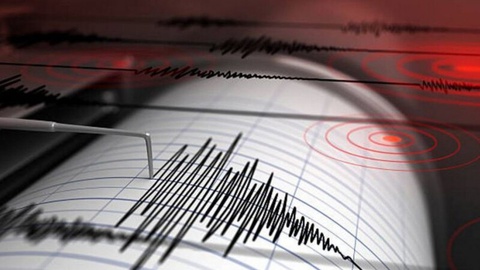Privilégio
A guerra aconteceu mesmo, esburacou as cidades, lançou milhões para fora da Ucrânia e mostra agora o lado mais negro das valas comuns, dos ataques contra civis.
Quando a pandemia chegou, primeiro como uma imagem remota e, logo depois, quando nos enfiou em casa, pensei que aquela era a minha primeira provação se descontasse disso os meus infortúnios pessoais, os meus mortos, as doenças e os azares. Se fosse justa sabia que crescera com mais privilégios do que a maioria das pessoas do planeta. Eu sei que dizer isto assim parece estranho. Nunca fui rica e, em grande parte da minha vida, o dinheiro foi um problema por ser pouco. A nossa casa não era um palácio, era apenas uma casa como tantas outras lá por cima no Laranjal, com terreno, quintal, jardim, galinhas e cães.
A mobília era como a das outras casas, as nossas roupas também e, quando os vejo nas fotografias, percebo que os meus pais tinham poucas diferenças dos homens e das mulheres dos anos 70, apanhados pelo 25 de Abril quase aos 40 anos, a tentar viver naquela sociedade nova e, apesar de tudo, tão velha. As mulheres continuavam confinadas a meia dúzia de profissões, obrigadas a um código moral severo que, anos mais tarde, ainda motivava comentários sobre as que iam ao café e se sentavam na esplanada, havia dúvidas se seriam de respeito.
E os homens mandavam em tudo, decidiam se as filhas cortavam o cabelo, se iam estudar, se usavam mini-saia, se vestiam fato de banho ou biquini ou, sequer, se iam à praia. O poder transitava do pai para o noivo e para o marido e, às vezes, para o irmão mais velho. Nascer homem mudava tudo, era tudo. O meu maior privilégio foi talvez esse. Os meus pais não nos viram assim, como um rapaz para ter futuro e uma filha para casar cedo, mas como filhos a quem amavam. Embora a família não fosse perfeita, esse amor tinha expressão, havia afecto, abraços, tal como havia zangas, e aborrecimentos.
O meu pai, o homem rude que descera do Curral Velho à procura de outra vida, fazia-se outro por nós e, na versão dos acontecimentos do meu irmão, mudava o que fosse preciso por mim, a menina, que era a mais nova, “que era arisca como um gato”, “a quem dava sempre tempo como às rolas” e a quem não travou os planos. O homem, que todas as sextas-feiras subia as vereda que ligava o Paul do Mar aos Prazeres só para estar connosco, para nos pegar ao colo e ensinar a ouvir o mar dentro de um búzio, não faria isso. E às vezes penso em tudo o que é preciso para ter esta poesia. O meu pai tinha e, também por isso, fez-me crescer com esse privilégio de tentar encontrar todas as coisas que valem mais que dinheiro, que são mais preciosas ainda.

Não faltou uma casa, uma família, houve carinho e dinheiro para tudo o que era mesmo importante. Houve escola, médico e cuidados de saúde. E, por isso, quando vi a pandemia a encerrar-nos em casa, a encher hospitais, a matar pessoas e a destruir a economia tive a noção de que esta era a grande provação da minha geração, essa tal que se fez adulta nos primeiros anos da democracia e que, de dificuldades, tinha apenas uma vaga ideia. Lembro-me de como imaginei o dia que nos iria libertar, dos planos todos, dos projectos de viagens e de, como uma vez mais, as notícias de uma guerra nas fronteiras leste da Europa me pareceram remotas, tão distantes como os quilómetros que nos separam de Kiev, na Ucrânia.
A guerra aconteceu mesmo, esburacou as cidades, lançou milhões para fora da Ucrânia e mostra agora o lado mais negro das valas comuns, dos ataques contra civis. O tormento ucraniano é grande, milhões vezes pior lá, na zona de impacto, mas que todos os dias provoca ondas de choque mundo fora e até aqui, onde os preços sobem e não se sabe bem o que esperar. E, de repente, há um novo sobressalto para várias gerações que cresceram privilegiadas, que nunca lutaram e que, em caso de necessidade, não saberão sequer agarrar-se às pequenas coisas como fazia o meu pai para sobreviver e não perder a dignidade.