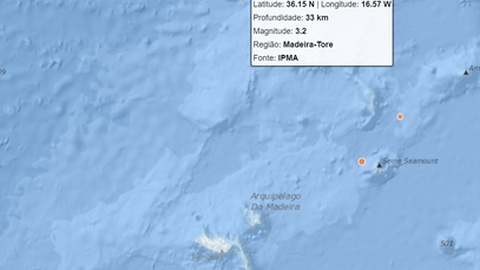Os bons e os maus
O bom da infância, daquela infância entre o caminho, a fazenda, as zaragatas à pedrada e a poesia de tentar contar quantas estrelas havia no céu, era a nossa fé que a vitória, no fim de qualquer história, seria sempre dos bons. O rapaz do filme, o herói, nunca morria por muito que tivesse que lutar, fugir ou antecipar ardis e manobras para o derrotar. O mundo estava repleto de bandidos, de intriguistas, invejosos e de pessoas com todos aqueles defeitos que não se devia ter e, quando se tinha, era suposto confessar como pecado ao padre.
No Laranjal dos anos 70 as coisas estavam bem estabelecidas, com fronteiras claras entre o que era certo e o que estava errado e não era bonito invejar os sapatos novos de alguém, o carro a pilhas ou boneca Nancy do reclame da televisão. As ideias modernas de que entre o preto e o branco existem muitos cambiantes de cinzento não tinham feito ainda a viagem até a parte alta da cidade. As pessoas sentiam ciúmes, faziam bilhardices, diziam mal dos vizinhos, mas isso dava má fama.
De modo que não havia quem quisesse torcer ou ouvir os argumentos dos maus, fosse da telenovela, do filme e, claro, das notícias, que o mundo, nesse tempo estava bem dividido entre o Ocidente e do lado comunista. Não levou muito até que - passados os anos quentes da revolução em que alguns conhecidos cederam ao entusiasmo das foices e martelos - as paradas militares com tanques e soldados a marchar em passo de ganso na Praça Vermelha em Moscovo passaram a dar medo. Não ajudava saber que havia armas nucleares que davam para destruir o mundo umas quantas vezes.
E, nós, que tínhamos visto todos os documentários da Segunda Guerra e recriado a batalha de Estalinegrado em kalkitos sabíamos do potencial destruidor das armas normais e das outras, que fizeram o Japão capitular de um dia para o outro. O assunto da guerra metia medo e não ajudava a minha mãe ainda se lembrar da bomba atómica e penúria desses anos, em que só havia milho amarelo e bacalhau fino. A sorte foi a fazenda do meu bisavô senão a fome teria apertado muito como apertou a barriga do meu pai. Tanto e de tal maneira que, muito anos depois, descrevia a sensação de ir dormir com o estômago vazio como se tivesse acontecido na noite anterior.
Aos nossos olhos, naquele mundo entre russos e americanos, entre nós e os do outro lado do muro de Berlim que centenas de pessoas arriscavam a vida para o atravessar, a razão estava deste lado. A nossa visão do mundo era ainda como nas histórias dos livros, como nos filmes, entre bons e maus, sem aéreas cinzentas. E tudo era melhor quando os bons ganhavam. A vida ensinou-me, depois, que as pessoas cometem erros, que, em boa verdade, não há santos e, por isso, não se acerta sempre e que isso vale para cada um e para a vida dos povos e o exercício do poder.

A nossa convivência, as nossas existências têm mágoas, injustiças, os governos nem sempre agem a bem de todos, mas, no essencial, continuo a acreditar na mesma ideia de que o mundo é melhor se o bem ganhar. Parece ingénuo, se calhar, demasiado preto ou branco, demasiado definitivo para uma época que gosta muito de acrescentar “mas” e “se” a todas opiniões, a todos os problemas, a todos assuntos, mesmo ao que é claro como foi a invasão da Ucrânia.