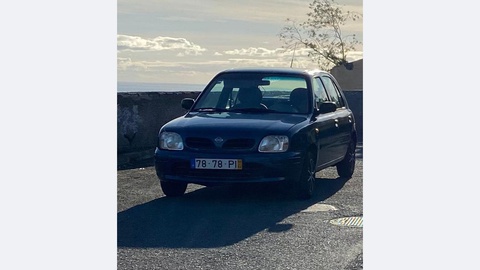O senhor Kundera faz anos
Kundera. Milan Kundera. Nasceu a 1 de Abril de 1929 e faz hoje 93 anos. Já foi um autor lido e amado; hoje, como tantos, porventura esquecido e tido por irrelevante – apesar do seu nome ainda aparecer nos palpites anuais para o Nobel da Literatura. Nada que os seus livros, por variações quase infinitas da sua “arte do romance”, não tenham predito e figurado: antes da morte real vem a morte da imagem, e todo o trabalho da memória na luta contra o poder é, na verdade, uma luta tenaz contra os apagamentos... De facto, que mais pode figurar a (auto)ilusão do poder, senão a tentativa de negar o legado mortal da vida no tempo, rasurar as imagens da história pessoal e coletiva, instituindo o mito do eterno presente, o tempo como puro agora, sem passado e sem morte — a impossível demanda da “insustentável leveza do ser”?
Não cabe aqui dissertar sobre o valor literário da obra de Kundera, mas lembrei-me do seu nome e da sua obra ao ver, de novo, a pata de ferro da “Mãe Rússia” sobre um país soberano — tal como os tanques soviéticos, demasiado pesados para a liberdade, afogaram as veleidades reformistas da sua Praga natal em 1968. Claro, uma situação não é a outra: a história, evoluindo em espiral, vai reformulando o seu sentido com novas figurações. Mas o veio sobre o qual a espiral gira, permanece o mesmo: a luta eterna, mas não inglória, entre a opressão e a liberdade. E Kundera sabe do que fala: “Todos os crimes anteriores do Império Russo foram cometidos sob a capa de uma sombra discreta. A deportação de um milhão de lituanos, o assassinato de centenas de milhares de poloneses, a liquidação dos tártaros da Crimeia permanece em nossa memória, mas não existe documentação fotográfica; mais cedo ou mais tarde, eles serão, portanto, proclamados como fabricações”.
Já aconteceu, volta a acontecer: agora, o opressor engendra uma “operação especial” para libertar o oprimido. Eis a novilíngua estalinista a operar de novo, e Kundera conhece bem essa gramática: “O primeiro passo na liquidação de um povo é apagar a sua memória. Destrua seus livros, sua cultura, sua história. Então alguém escreva novos livros, fabrique uma nova cultura, invente uma nova história. Em pouco tempo a nação começará a esquecer o que é e o que era ... A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento”.
Milan Kundera viu os seus livros caçados após a invasão soviética de Praga. Ele próprio acabou por buscar o exílio, adquirindo a nacionalidade francesa em 1975. Foi no lado ocidental que escreveu alguns dos seus melhores romances, todos eles trabalhados como uma metáfora cética da existência, sempre pontilhados de um humor irónico, entendido como variante (ainda) possível da liberdade. Em “A Imortalidade”, publicado em 1990, visto pelos críticos como o mais europeu dos seus romances, encena as ilusões mortais da modernidade, quando o kitsch e a fealdade estão a tomar conta de tudo. Mas, a dada altura, o diálogo de um personagem faz ecoar ainda a lição de Praga: “A verdade é que nada exige do pensamento um esforço maior do que a justificação do não-pensamento. Pude comprová-lo com os meus próprios olhos, depois da guerra, quando os intelectuais e os artistas entravam em rebanho no partido comunista, que a seguir, com grande prazer, os liquidava sistematicamente a todos. Tu estás a fazer exatamente a mesma coisa. És o brilhante aliado dos teus próprios coveiros”.