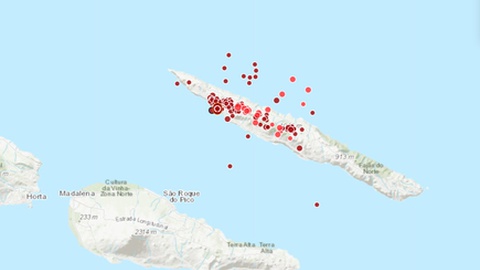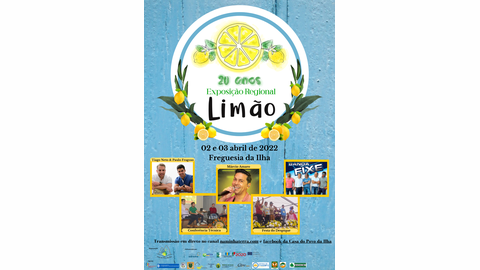Palavras que são punhais*
As palavras por vezes são muito mais fortes do que as imagens
As imagens, muitas vezes, não são mais fortes do que as palavras. Ainda sinto a violência da leitura destas frases num artigo do jornal «Público»:
«Uma mãe estava a tentar encontrar os seus filhos debaixo dos escombros. Uma criança de cinco anos gritava: “Eu não quero morrer”.»
O relato dizia respeito ao que se viveu depois do bombardeamento do teatro de Mariupol, onde cerca de 1000 pessoas estavam refugiadas. Em redor, havia várias inscrições a sinalizar a presença de crianças naquele sítio. Não foi isso que impediu o Kremlin de bombardear o edifício. Putin (e o seu séquito) tem demonstrado que nada do que diz corresponde à realidade e que não tem limites éticos; na mesma semana em que bombardeou maternidades, escolas, hospitais, jardins-de-infância e locais onde sabe que as pessoas estão refugiadas e sem comida ou água potável, na semana em que bloqueia e ataca os corredores humanitários que são a única esperança de fuga ao inferno dos bombardeamentos ordenados pelo Kremlin, os seus enviados da missão russa nas Nações Unidas tiveram a veleidade de tentar apresentar uma resolução que chamou de «humanitária» sobre a Ucrânia; não chegaram a apresentá-la porque o ridículo da proposta foi exposto pela Missão do Canadá, que sugeriu mais de 30 correções e adendas ao documento.
Mas para lá destes exercícios de hipocrisia que as fontes diplomáticas russas têm demonstrado relativamente a um Estado soberano, a verdade é que a invasão da Ucrânia, para além de um ataque à liberdade de um País, revela um total desprezo por todas vidas humanas envolvidas. Os ataques à bomba a maternidades, jardins-de-infância, hospitais e locais onde se sabe estarem refugiadas crianças são profundamente simbólicos; indiciam o desejo de subjugação radical que sacrifica conscientemente o que pode representar a renovação, continuidade e esperança de um povo: as suas crianças. É exatamente isto que Putin deseja destruir com estes atos de guerra infames. São crimes contra a humanidade e espero que os responsáveis venham a responder por eles perante o Tribunal Penal Internacional.
Considero especialmente eloquente a posição assumida pelo filósofo Étienne Balibar, a de que a resistência da Ucrânia perante a invasão da Rússia é uma «guerra justa» no sentido em que «não basta reconhecer a legitimidade do lado dos que se defendem contra uma agressão (critério do direito internacional), mas na qual é preciso engajarmo-nos ao lado deles; e é uma guerra na qual mesmo aqueles (…) para quem toda guerra (ou toda a guerra hoje, no estado atual do mundo) é inaceitável e desastrosa, não têm, contudo, a alternativa de permanecer passivos.»
Talvez por ter o mesmo sentir – o de que nos é impossível permanecer numa passividade distante mesmo quando, em abstrato, nos posicionamos contra toda a guerra – é profundamente perturbador ler e ouvir posições que deploram a resistência adotada por quem foi invadido, como se também nessa questão a Ucrânia não tivesse o direito de decidir. É ridiculamente paradoxal ouvir a repetição dos argumentos apresentados por Putin, mesmo quando as vítimas são as pessoas que proclama querer defender, como é o caso de Boris Romantschenko, sobrevivente de quatro campos de extermínio nazis que trabalhou ativamente para que a memória do Holocausto se mantivesse viva, e que morreu num dos bombardeamentos de Putin à cidade de Kharkiv. Eis a desnazificação putiniana em todo o seu horror. Sem nenhum indigno «mas».
As palavras por vezes são muito mais fortes do que as imagens. Assombra-me a noção de que uma criança de 5 anos saiba o suficiente sobre morte para gritar que não quer morrer, que quer viver, tal como me assombrou durante muito tempo a imagem do corpo de Alan Kurdi, o menino de dois anos que, em 2015, deu à costa numa praia da Turquia, consequência de um naufrágio de uma casca de noz que transportava centenas de pessoas em fuga da guerra na Síria. Três anos mais tarde, a tia de Alan escreveria «Também somos seres humanos, também festejamos aniversários, trabalhamos, estudamos. Tínhamos uma vida antes de começar a guerra.» A criança de cinco anos que, nos escombros do Teatro de Mariupol, no meio do inferno, gritava que não queria morrer, também teve uma outra vida antes da guerra começar – uma vida em que provavelmente a ideia de morte lhe era praticamente desconhecida. O grito daquela criança marca a rutura absoluta com o que foi, com a vida que teve – e marcará indelevelmente a vida que espero que possa vir a ter.
No programa Sinais, da TSF, e a propósito do bombardeamento de uma maternidade de Mariupol, Fernando Alves dizia que «O poder das mães é maior que o de todos os filhos da mãe.» Este é um desejo belíssimo. Mas que pode a Mãe – ou o Pai – daquele menino? Ou que pôde a Mãe de Alan Kurdi, também ela vítima daquele naufrágio, ela e os seus dois filhos? Que pode aquela outra Mãe que tenta regressar a Mariupol para junto da sua filha de 10 anos, e que quer ter pelo menos o direito de morrer com ela? É a nossa humanidade que morre também com elas, com o medo, desespero e dor infligido às suas crianças. O poder das Mães – e dos Pais – devia ser maior que o poder de todos os filhos da mãe. Desde quem ordena o bombardeamento até quem comenta de forma imbecil o sofrimento radical de outros seres humanos.
* a fazer lembrar o poema de Eugénio de Andrade, «As Palavras»