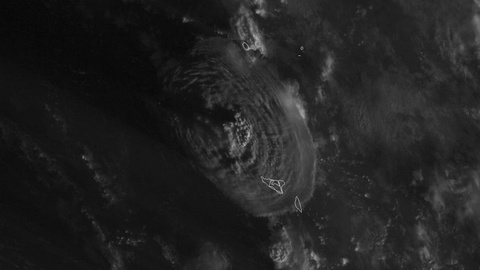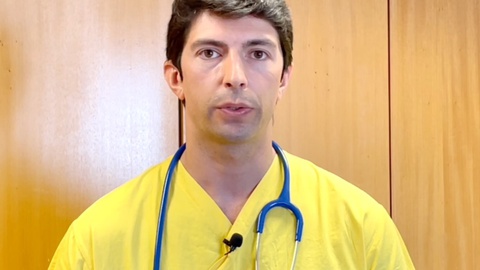Sete vidas
Os últimos oito anos acabaram por se transformar numa nova vida e, se viver fosse como um jogo de computador, diria que já gastei algumas
A última vez que entrei no edifício onde fiz o secundário foi para me inscrever como desempregada, vivíamos tempos complicados e a crise apanhou-me. O prédio estava diferente, mais moderno, mas lembro-me de ter passado pela antiga portaria para ir descarregar o nome e assistir a uma acção de formação sobre como criar o próprio emprego.
O orador era um rapaz com idade para ser meu filho e trazia tudo estudado para nos dizer como era bom uma pessoa ser patrão. Acho que escondeu a parte complicada das contas e dos impostos e sei que, depois dos primeiros 10 minutos, naquela sala cheia de gente mais ou menos à toa, a minha cabeça saiu para aterrar no fim dos anos 80, quando tudo aquilo era um entra e sai de adolescentes.
As paredes eram de um azul usado, os corredores tinham cadeiras como se fosse a sala de espera de um consultório e com vista para o mercado. Às sextas-feiras de manhã havia vendedores a tapar a entrada e era preciso desviar das caixas de espada que saíam das furgonetas para a praça. Da Insular de Moinhos vinha o cheiro das bolachas a cozer e, ainda assim, havia no ar uma esperança de que já não me lembro de ver.
No dia em que fui à formação, para responder à convocatória mais ou menos ameaçadora do Instituto do Emprego, as perspectivas pareciam ainda piores, mas eu fiz o que faço sempre quando a realidade pesa, quando é triste ou sem solução: agarrei-me às memórias felizes. Quase sempre costumo refugiar-me na imagem do quintal da casa do Laranjal, numa tarde de sol, com a minha mãe a bordar e o rádio sintonizado no noticiário da RDP.
Mas estava no mesmo edifício onde fizera o secundário e a imagem foi a da miúda que fui, a entrar na sala para a aula de Português ou a receber as notas e a fazer cálculos a ver se dava para entrar na universidade; tão preocupada com a roupa e os sapatos, tão nova, tão inocente e com o futuro como uma página em branco. Vieram imagens, umas atrás das outras. O primeiro dia ali, mais ou menos perdida, sem amigos e, mais tarde, quando formei parelha com a Raquel numa amizade que seria para a vida.
As aulas, o bar no último andar e os livros de autógrafos que todas tínhamos e que enchíamos com dedicatórias no fim do ano. O rapazes bonitos, os feios e os poucos que andavam por ali no anexo de Letras do liceu. O primeiro rascunho do que seria a minha vida começou a desenhar-se ali, foi quando decidi seguir comunicação social. A crise tinha chegado em força aos jornais e o futuro não me parecia tão promissor a ouvir o rapaz da formação a incentivar a sala a formar empresas.
Quando, após uma hora naquele espaço fechado, se deu por encerrado aquela liturgia para enganar os números e criar a ilusão de se estar a fomentar a procura activa de emprego, fugi porta fora sem olhar para trás. Não quis tirar dúvidas, nunca seria boa patroa, a situação não era famosa, mas eu não perdera esperança. Nunca deixamos de facto de ser quem somos, de uma certa maneira por dentro temos sempre 17 anos.

As circunstâncias não jogavam a favor: tinha 43 anos, um currículo de jornalista quando se dispensavam jornalistas e uma crise a fechar tudo, empresas, lojas, restaurantes. Não vou negar, foi difícil. Perder o emprego não é bom, não é uma oportunidade para se reinventar. É, antes de tudo, um soco no estômago. E, não fossem as tais memórias felizes, teria sido ainda pior. Agarrada àquela miúda de 17 anos, cheia de garra, quanto romântica e sonhadora, fui buscar coragem para continuar.
Os últimos 8 anos acabaram por se transformar numa nova vida e, se viver fosse como um jogo de computador, diria que já gastei algumas. E a primeira lição desta segunda vida começou lá, no prédio onde fiz o secundário: fui primeiro um número, mais um na acção de formação para limpar a consciência, mais um na vergonha de se apresentar de 15 em 15 dias.
Quando isto não nos leva o brio e o orgulho, dá força e ânimo.