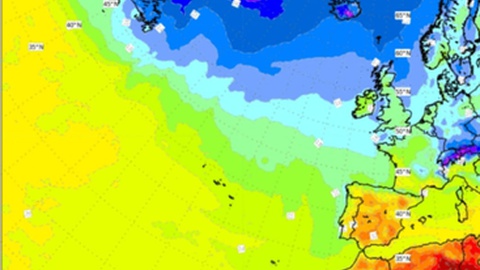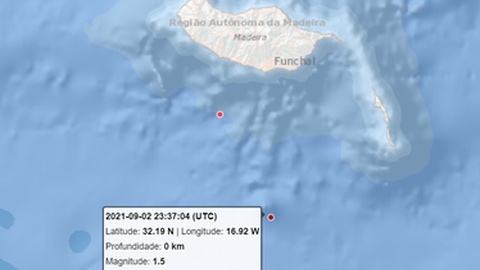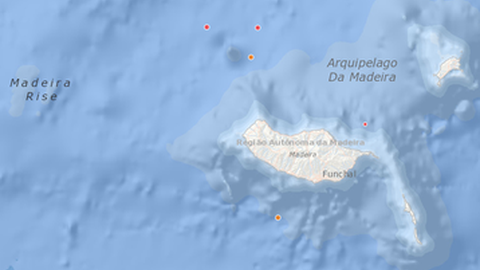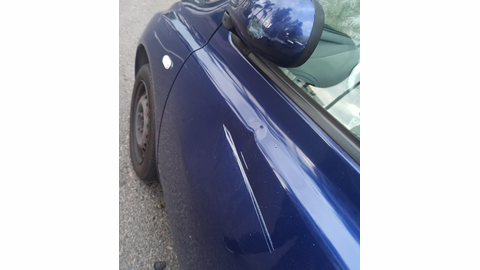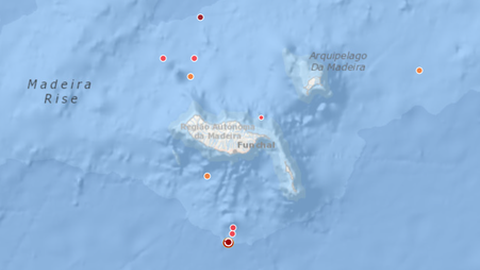O tempo e o modo
A corrida a tanta Câmara e tanta Junta obriga, por razões aritméticas, ao recrutamento de figuras menos ortodoxas
O tempo
Não tenho a presunção de me julgar entendido em geopolítica. Muito menos no Afeganistão, uma das peças mais escorregadias do tabuleiro.
Se lhe dedico algumas linhas, é porque Cabul parece o tipo de tragédia que marca o fim de uma era.
O 11 de setembro faz 20 anos. Como escreveu o Expresso, foi o dia em que o século começou. A chamada Guerra ao Terror, a invasão americana do Afeganistão e do Iraque, procurou de certo modo adiar esse começo. E tapou uma panela que entretanto fervia.
Esse adiamento permitiu que a Europa continuasse agarrada a algumas crenças.
Desde logo, a crença de que um exército armado, treinado e numeroso não era condição da sua subsistência, ou de decência da ordem internacional. Ou a crença de que o pacifismo e o isolacionismo eram posturas racionais e económicas.
Havia razões para pensar assim. Os europeus não precisaram, afinal, de sujar as mãos ou a consciência. Para isso havia a América, a América imperial, bélica, moralmente corrompida, que se metia onde não era chamada e recebia, quando derrotada, a justa retribuição.
Com o patrocínio e garantia das tropas de Washington, essa Europa apática, envelhecida e alheada podia confiar na sua segurança e superioridade. E podia até fiar-se na integração ordenada de refugiados e migrantes para enfrentar o seu Inverno demográfico.
Mas a saída do Afeganistão é o prenúncio de uma nova América. Pragmática, virada a Oriente, apostada na supremacia tecnológica e económica, prudentemente concertada com a Rússia e com a China. Uma América que não se defende pelas armas, mas pelo Pacífico, pelo Atlântico, pela arte do negócio e pela manha de ficar de fora.
Com o recuo, Biden deixa o gesto e dá o mote: eis o mal com que os Estados Unidos se conformam.
Boa parte dos europeus deve achar que é melhor assim. A Ásia, o Médio Oriente e o Sul não são problema deles. Não dão aos governos força para comprar armas, quanto mais para impor o serviço militar ou fazer a guerra.
Os estilhaços de Cabul são ilustrativos quanto ao que esperar desse mundo desmilitarizado, idealista e só. São talvez o advento de um Ocidente mais conflituoso, dependente e pobre. Uma Europa excluída da revolução digital, de capitais entregues a regimes duradouros e resolutos, hesitante perante os seus aliados e em aguda crise migratória. Cidadãos mais assustados, radicais e divididos, expostos a ataques terroristas e abertos a soluções totalitárias e revanchistas. Um lugar mais perigoso para mulheres e minorias sexuais e étnicas, cinicamente abandonados pelas hipocrisias do dogma e das lealdades ideológicas. Sociedades consumidas, enfim, pelo fanatismo e pela trincheira que fatalmente infectam as sociedades abertas, sempre que toleram quem não as tolera.
Os Taliban têm um ditado: “os americanos têm os relógios, mas nós temos o tempo”. Os relógios americanos prolongaram, artificialmente, o século XX no Afeganistão. Foi um período de graça, ou de luto, para uma América afinal ferida de morte em 2001. Como todos os animais ferozes, foi então mais perigosa. Houve um último espasmo no estertor. Saddam foi derrubado, a cabeça de Bin Laden rolou. A potência foi vingada, as tropas voltaram a casa. O século virou.
De quem é o tempo agora?
O modo
As autárquicas prestam-se ao pitoresco. Em Portugal há afinal 308 municípios, e a corrida a tanta Câmara e tanta Junta obriga, por razões aritméticas, ao recrutamento de figuras menos ortodoxas.
Mas não é isso que vem acontecendo nestas eleições. Montou-se um circo de vacuidade sem precedentes, assumidamente rendido à superficialidade das redes sociais e à grosseria da tasca.
A deriva mais grave é do PSD. Em Oeiras, o candidato a substituir Isaltino Morais parece querer o lugar de Joaquim Monchique, ou de qualquer outra estrela de revista. E a candidata à Amadora, reputada cortesã dos programas da manhã, anuncia-se em Lisboa como a mulher que fará “tremer o sistema”.
A degeneração é porém universal, e os tiques notam-se até em campanhas mais sérias. Os cartazes apostam numa fulanização excessiva e vã, em que o rosto, o traje e o sorriso usurpam o projecto e a medida.
Nem só desses meios se faz uma campanha. E respeito para se apresenta porta a porta, sujeitando-se ao descrédito e ao desconforto.
Mas justifica-se um apelo à substância e à elevação. Um “gosto” não é um voto. Os seguidores não são fiéis, e muito menos convertidos. E os partidos não são influencers desta vida, ao ponto de poderem inocentemente sugerir o colapso do sistema – democrático – que os sustenta.
As redes sociais são um teatro, e um teatro convincente. Mas o voto é um confessionário. Se partidos e assessores não percebem a diferença, não vale a pena tentar explicar.