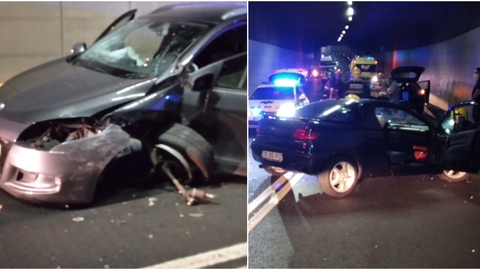O rali
As luzes e as bandeiras de arraial não conseguiam disfarçar a poeira que os miúdos faziam ao correr pelo descampado na véspera da festa do Senhor que, por azar meu, calhava no mesmo sábado do rali. E dava um aperto no coração andar por ali, enquanto o rapaz do bingo dizia números e a roda andava nos bazares da quermesse para aquela meia dúzia de resistentes e uns quantos bêbedos encostados ao balcão da única barraca de comes e bebes.
O tempo do conjunto de ritmos modernos perdera-se no dobrar da década e, para animar o arraial, ficou a banda que, nessa altura, tocava o tema de abertura do Dallas e, com sorte, alguma música do top, talvez daquelas que batiam mais na rádio como “I Just Call To Say I Love You’. Aquilo, visto de cima, da varanda do adro da igreja, era o que era: uma festa de outra época que todos os anos se repetia no primeiro fim-de-semana de Agosto, quando todas as pessoas, interessantes ou não, corriam à serra para ver as classificativas nocturnas do rali.
Mas disso eu não tenho memória além de ouvir o sinal ao minuto na rádio e as reportagens relatadas com entusiasmo pela voz dos jornalistas que, por uma semana, se tornavam especialistas em carros, motores, falavam de pilotos favoritos e lamentavam desistências. Lembro-me que o rali era tão importante que em Outubro ainda se falava do assunto, sobretudo das festas depois da entrega de prémios. E ser piloto de rali era quase como ser artista ou cantor pop. Eu imaginava-os todos bonitos, assim como se fossem todos versões actualizadas do Paul Newman.
Eu apenas podia imaginar. A minha realidade era o adro e o descampado, mais os bazares a sortear bolos feitos na padaria e garrafas de vinho com tampa de plástico, um galo e uns bordados sem muita graça. E tudo debaixo das luzes mortiças do facho e ao som das tubas, clarinetes e demais instrumentos da banda. A mesma que, domingo à tarde, seguia a procissão pelo Lombo dos Aguiares ou fazia a volta pelo Laranjal. A minha realidade também era essa, a da procissão com o emblema de mordoma ao peito, de sapatos brancos e vestido de crepe georgette.
A minha mãe e a D. Deolinda tinham muito apreço pelo tecido, que era dos bons e fazia-se sempre uma grande discussão na loja de fazendas, não fossem os empregados enganar e vender caro material de má qualidade. O que a mim tanto se me dava, não via grande vantagem em pagar mil escudos a Nossa Senhora da Visitação e gastar dinheiro para roupa que só me tornava mais esquisita no intervalo da escola. Ainda tentei dar um jeito, escolher um modelo da moda numa das muitas revistas Burdas da D. Deolinda, mas ficou sempre com ar de vestido de ir acompanhar casamentos.
E enquanto eu seguia nas voltas do Laranjal e do Lombo dos Aguiares, tudo o que era importante acontecia longe dali na serra e, depois, na avenida Arriaga, com espumante e prémios, com os pilotos no pódio e a malta porreira ou ‘cool’ a assistir, ainda com as mochilas dos acampamentos no Chão da Lagoa. E disso, de ir serra adentro, com a casa às costas, dormir numa tenda ou ao relento, com as estrelas por cima, também não tenho memória. Lá por cima, no Laranjal, as raparigas não podiam apreciar uma noite de Agosto. De alguma maneira, pensavam todos, assim que se nos abriam as portas de casa estávamos perdidas.
Talvez a maior transgressão fosse essa. Todas nós, de uma maneira ou de outra, estávamos a ser programadas para um futuro de rotina, de filhos e marido, de vida doméstica, de assuntos práticos. Onde iríamos encaixar a poesia de estar com outras pessoas sem outro propósito além de tentar encontrar constelações e contar estrelas cadentes, de rir e falar? A minha mãe sabia que o conhecimento não ocupava lugar, levou mais tempo a entender que o resto, a poesia, essa coisa não dita que nos constrói, também não.