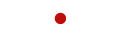ONU está a minimizar "a gravidade do que está a acontecer no Sudão do Sul"

A ONU está a minimizar a "gravidade do que está a acontecer" no Sudão do Sul, que celebra 10 anos de independência imerso numa crise humanitária e de segurança, e isso é "perigoso", disse à Lusa um analista.
"A comunidade internacional e a ONU poderiam fazer melhor se, realmente, afirmassem as coisas como elas são e o que se vê da ONU, neste momento particular, é uma tendência para minimizar a gravidade do que está a acontecer no Sudão do Sul, o que eu penso ser perigoso", afirmou Mark Millar, analista de conflitos no Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC, na sigla em inglês).
"O que percebo da ONU é que eles querem realmente sair da situação muito difícil em que veem o país. Começa-se a ver nas narrativas coisas que minimizam a seriedade dos acontecimentos", acrescentou.
O país mais jovem do mundo, 193.º estado-membro das Nações Unidas, declarado independente em 9 de julho de 2011, faz esta sexta-feira dez anos, mas não tem razões para celebrar o seu "dia nacional".
O Sudão Sul mergulhou numa guerra civil em finais de 2013, da qual saiu, mais no papel do que na realidade, em setembro de 2018, com a assinatura de um acordo de paz dito "revitalizado", e contabiliza desde a independência cerca de 400 mil mortos, 2,2 milhões refugiados e 1,4 milhões de deslocados internos, segundo o Norwegian Refugee Council.
Millar deu como exemplo do que afirma o facto das Nações Unidas se referirem aos sucessivos eventos de violência interétnica, sobretudo entre Nuer (pastores) e Dinka (agricultores), as maiores etnias do país, apontando sempre o "aspeto local" dos mesmos - "falam sempre em violência intercomunal" - com o objetivo de "afastarem a ideia de que isto possa fazer parte do conflito nacional".
"É possível ver-se a ONU como que, penso, a esgueirar-se pela porta e a tentar arranjar desculpas, à medida que vai saindo, o que é muito preocupante, porque, se esta coisa se reacende, se as coisas voltam a ficar más, qual vai ser o seu empenho na proteção dos civis?", interrogou Mark Millar, cujo posto de trabalho é em Juba, capital do Sudão do Sul.
Também Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, dá voz a "relatos de organizações humanitárias, que são muito reveladores de uma tendência questionável por parte das forças internacionais e das missões internacionais, nomeadamente das Nações Unidas", não apenas no mais jovem país do mundo.
Mas concretamente, em relação ao Sudão do Sul, a investigadora de Coimbra chamou a atenção para "muitos relatos das organizações humanitárias, logo no imediato momento de tensão e violência em dezembro de 2013, de que muitas das vítimas da violência foram massacradas às portas do quartel-general da UNMISS", a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul.
"A primeira reação da população do Sudão do Sul quando percebeu que estava em curso uma onda de violência étnico-religiosa foi buscar proteção onde esperaria que essa proteção pudesse ser garantida", afirmou Daniela Nascimento.
"A verdade é que essa proteção não existiu. Os portões do quartel-general não se abriram para acolher aqueles que estavam a fugir da violência sectária", e isso "é muito revelador daquilo que, infelizmente, tem sido a postura das Nações Unidas e de muitos atores internacionais no que diz respeito às fases pós-início destes processos sempre complexos", afirmou a especialista, doutorada em Política Internacional e Resolução de Conflitos e especialista na região do Corno de África.
Outra das críticas dos analistas convidados pela Lusa a analisar os dez anos do Sudão do Sul foram dirigidas à Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). "O ACNUR não devia, como vocação, fazer países. Mas é isto que tem estado a fazer no Sudão do Sul", aponta Manuel João Ramos, investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL).
"O ACNUR, cuja vocação é cuidar dos refugiados, foi transformado -- e aí com grande responsabilidade [do secretário-geral da ONU] António Guterres -- numa máquina de construção de estruturas estatais, muito para além do que era a sua vocação e competências", acusa ainda o investigador.
"O exemplo do ACNUR ajuda a explicar que o papel das Nações Unidas é, eu diria, altamente ideológico. Esta ideia da autodeterminação e da construção de uma identidade... Qual é a identidade nacional do Sudão do Sul? Não existe. Teve que ser fabricada", acrescentou o antropólogo, especialista nos países do Corno de África.
O Sudão do Sul nasceu numa altura em que os Estados Unidos acreditavam no "milagre das intervenções militares como forma de criação de novos estados democráticos em lugares no mundo onde isso é impossível", parece responder Aleksi Ylonen, investigador finlandês também associado ao CEI-IUL.
Salva Kiir Mayardit, atual presidente do Sudão do Sul, ainda usa na cabeça um sinal dessa "devoção". Em 2006, ao visitar a Casa Branca, recebeu como presente do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, um chapéu "stetson" preto. Gostou tanto que comprou vários e nunca mais deixou de dar de si a imagem de um "cowboy".
O Sudão do Sul é um produto de uma visão da Casa Branca, explicada por analistas como Fouad Ajami e outros, que montaram a narrativa que justificou segunda invasão do Iraque em 2003, cuja tentativa de aplicação em várias partes do globo durante a primeira década do século XXI continua a ser objeto de análise por parte das academias.
Como na Serra Leoa, entre outros locais, a Casa Branca justificou a sua intervenção no Sul do Sudão como a oportunidade de construir um estado democrático, uma democracia liberal com uma economia de mercado, num ponto do mapa onde nunca nada semelhante existiu até hoje, sem quaisquer estruturas de estado ou tipos de ordem democrática.
"Foi um falhanço desde o início", diz Aleksi Ylonen. "Mas havia uma enorme esperança neste processo, instilada pelos Estados Unidos, que conseguiram passá-la às organizações internacionais. As Nações Unidas foram envolvidas, mas é interessante que, na altura, as instituições africanas, como a União Africana, e os líderes africanos de todo o continente, sendo um deles, Muammar Kadafi, afirmaram que aquilo não fazia sentido", descreve o especialista finlandês.
"Não se pode ter um novo país a partir do nada", dizia o então líder líbio, e sustentava que teria que haver algum tipo de acordo, algum tipo de federação ou confederação dentro do Sudão, "porque assim não funcionaria", explica ainda Ylonen.
A União Africana acabaria por, finalmente, "ser convencida pelas grandes potências, sobretudo ocidentais, e embarcou na ideia" de apoiar o nascimento do mais jovem país do mundo, diz o investigador. Kadafi ficou sozinho, e acabaria morto no rasto de uma "Primavera Árabe", por alturas em que o Sudão do Sul chegava à ONU. Mas é quem parece ter tido razão.