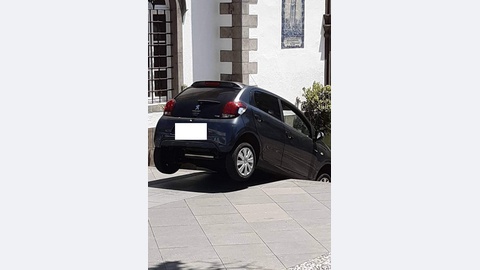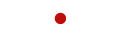A vida analógica
Quando deixei o Laranjal, no dobrar o século, a vida ainda era analógica e o telefone um objecto preto em cima do aparador da sala de jantar. As pessoas, aquelas com a “mania”, resistiam aos telemóveis e encaravam quem os exibia como se tivessem vendido a alma ao demónio. Do que me lembro, sou capaz de ter partilhado um ou outro comentário tolo, não por uma questão de princípio. Sei que, nesses anos, o dinheiro não dava para todos os meus planos de viajar a ter roupas bonitas.
Um telemóvel Nokia, daqueles que tinham o jogo da serpente e não se assemelhavam a um tijolo, custava caro. Ao que somava os valores das contas que, se não houvesse cuidado, davam, nos preços de agora, para pagar seis meses de assinatura com todos os extras que oferecem. Um telefone era coisa de rico, pior, de novo rico. O mundo não estava preparado para ouvir os toques a quebrar o silêncio a meio de um almoço ou durante uma sessão de cinema. E menos ainda para ver pessoas a falar na rua com um aparelho agarrado à orelha.
Se fosse possível pular no tempo não imagino como seriam as reacções às selfies, aos directos, às poses para o Instragram e a este novo modo de viver. Os exibicionistas de há 20 anos parecem-me todos de uma era inocente, em que o melhor da tecnologia era um telemóvel, um endereço de mail, uma máquina fotográfica digital, um computador e ter trocado as disquetes e os cd’s por uma ‘pen’.
E, a menos que se tivesse uma justificação profissional, tudo isto parecia desnecessário, uma maneira de dizer o lugar que se ocupava na escala social. O que, no início do século, significava ter coisas. Penso que a ideia de pagar para viver experiências não tinha sido inventada, até porque não havia como anunciar para milhões que se tinha escalado o Evereste ou dado um passeio de barco. Nessa altura, ir jantar a casa de alguém regressado de oito dias de férias era um massacre.
A resolução das máquinas digitais era pouca, cheias de grão; as fotos em papel, uma caixinha de surpresas, nunca captavam bem o que se via. Além de cortar cabeças, ficavam tremidas e deixavam quem estivesse à mesa do jantar com os olhos vermelhos como se fosse um filme de vampiros. A maioria de nós fez o papel educado de mostrar espanto, penso que alguns dos meus amigos fizeram o mesmo. Tal como todos, acabei por comprar um telemóvel Nokia e empatar o subsídio de férias numas férias de resort, num hotel com pequeno almoço de encher o olho e areia branca na praia.

As fotografias não fazem justiça aos escassos dias de vida de lorde, é pena. Se fosse hoje, com filtro de Instagram, uma fotografia estendida na praia, ali, no fulgor dos meus 30 anos, teria sido cá um espanto, mas calhou-me viver aqueles anos e, por isso, as fotos que tirei estão coladas a um álbum e escondidas dentro do armário da sala, por baixo de outras fotografias e tralhas sobre as quais não decidi o destino a dar. São registos dessa vida analógica, águas passadas.
As pessoas que a viveram, assim como eu, sentem alguma nostalgia. E, de facto, havia a tal inocência, a ideia segura de que todos tinham o direito ao esquecimento. Fosse o que fosse, o tempo curava, fazia desaparecer. As nossas maiores glórias, as loucuras mais extravagantes, as noitadas menos felizes, disso não temos registo. Está na nossa memória, dos que estiveram connosco e é assunto quando nos reencontramos, daquelas conversas do “lembras-te da vez...”, que fomos novos, loucos, inconscientes. Só não temos registo.