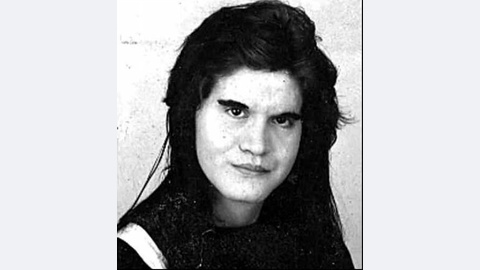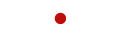Elefante (in)visível
Há dias, dei com os olhos numa citação de Nietzsche (1844-1900): “Nos indivíduos, a loucura é algo raro — mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra”.
Ora, aquele que foi tratado por muitos como o filósofo-louco, morreu no dealbar do século que viria a confirmar da pior maneira o lado negro das suas “profecias” sobre a vontade de poder e o super-homem: a sua “genealogia da moral” vaticinava, para o século que nascia, o futuro sombrio de nações poderosas, em orgulho erguidas sobre o “demasiado humano” de uma caduca ordem moral e política. Nos partidos e nos povos, a “loucura” do poder sempre foi a “regra” para o desastre.
As turbas não pensam. Vão atrás de “homens fortes” que, em cada época e lugar, sempre suscitam a atenção (e o voto) dos mais conformes. E assim se empurram multidões mais ou menos temerosas ou acéfalas, para a prática confortável do que o filósofo chamava a “moral do rebanho”, que é na verdade o sedimento psicossocial que liga a fragilidade dos indivíduos à vontade de poder dos poderosos. A história está repleta de loucuras insanas que levaram ao abismo nações inteiras, sobretudo quando reis fracos ou dementes tornaram mais fraca, porque moralmente entorpecida, aquela que foi, outrora, a forte gente!
Hoje, os imperadores e os mandantes já não se deixam venerar sentados em elefantes, nem se fazem obedecer montados nos seus cavalos de batalha — imaginários arrumados nos esconsos da história. Agora, os “condottieri” fazem-se eleger, pois o voto é a arma do povo, como se dizia por estas alturas do 25 do 4 quando a liberdade era ainda uma colorida aurora, prenhe de promessas de justiça e vida verdadeira. Agora, quase meio século depois, o rebanho mansamente recolhido ao redil é educado e vigiado pelos bigbrothers que, sem descanso, fornecem (religiosamente?) a devida ração diária de novíssimos ópios do povo. Já não há impérios nem carnificinas, nem os elefantes carregam o senhorio em luzidios palanques. Nada disso: agora, o elefante está mesmo no meio da sala, e os mandantes, cegos a guiarem cegos, representam a interminável rábula de “pais da pátria”, acotovelando-se para o telejornal. E a única e confinada loucura que resta — antes, durante e depois do vírus! — é a “loucura mansa” da quotidiana sobrevivência...
Percebe-se que o que aconteceu seja terrível demais e ninguém saiba como ultrapassar o descrédito — da justiça e do regime. Qual fantasma, o elefante exibe a alucinação no meio da sala e a sombra do paquiderme louco projeta-se em todas as direções. A manada aonde ele pertenceu e que durante largo tempo conduziu a viçosos pastos, olha sem ver: incomodam tantos anos de más companhias, é melhor o silêncio que serem acusados de traidores. Na fraternidade reunida 48 anos depois, os chefes refugiam-se em circunlóquios, como “lideranças circunstanciais” ou “desvios” ao longo da caminhada. E dá sempre jeito recorrer ao cliché mais estafado, quando a insanidade já saltou o muro: “À política o que é da política, à justiça o que é da justiça”. Como se não fosse a política que pensa e produz a justiça que temos! Desresponsabilização. Assim se garante uma (in)visibilidade culposa, apesar do elefante na sala: o silêncio medonho dos próceres da nação, incómodas cumplicidades, a justiça e a liberdade já sob escombros. Até que, do alto do palanque, almas pias finalmente acordam e gritam: “Criminalizar o enriquecimento ilícito. Já se perdeu tempo demais”!