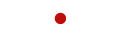Contra os “Ascensos” do costume
De vez em quando, o povo é chamado ao mais antigo desporto nacional: reescrever a história e mostrar vergonha do passado... Como se o tempo cristalizasse na pura contemporaneidade, abjurando da memória e dos factos pela evanescência narcísica do presente. Claro que estas “batalhas” são cíclicas e artificiais: um “quid” mediático-ideológico as desencadeia e alimenta, por um tempo fazem a espuma dos dias, e depois somem-se na areia do deserto “comunicacional”, logo surgindo outra polémica qualquer, de novo plantada e implantada nos fóruns da verborreia mediática dominante, encenada por tribos de zelotas e pítias do sistema, que têm o impudor de se tomarem demasiado a sério.
Pensei nisto ao ler no E-Revista a oportuna entrevista de José Matoso, um historiador maior no Portugal de hoje, tanto pela longa obra, de enorme craveira técnica, como pela raridade e elevação do seu próprio perfil humano. Ele ajuda-nos a perceber como a privatização da história por ideologias legitimadoras do presente, pode ser uma manobra fraudulenta que não funda nenhum futuro: nem o arcaísmo da glorificação do passado, como se uma sebastiânica missão nos aguardasse ainda; nem o rancor iconoclasta que não foi capaz de exorcizar os demónios do passado, ou de superar o complexo infantil da liberdade. Nada disso é identidade, memória, ou história verdadeira, capaz de integrar o claro e o escuro do devir de cada povo — a sua densidade obscura e sangrenta, mas também a luz e a promessa projetadas num horizonte de sentido e de esperança — numa narrativa emancipadora e numa cultura de liberdade. Ora, não seguindo por aí uma compreensão objetiva e veraz — porque situada e contextualizada — do nosso passado, o que sobra são caricaturas, anacronismos e pós-modernices. Eis que saltam, então, para o palco da contenda mediática, as piruetas risíveis do esquerdismo pequeno-burguês no seu lusitano esplendor: a querela dos brasões na Praça do Império; o dilema à volta do negro medalhado de guerra, na dúvida entre o herói e o criminoso; e a rematada loucura mansa do Ascenso de serviço (que sempre os há), clamando por um camartelo, já, em cima dos monumentos da herança colonial, não apenas o Padrão do Infante, mas talvez mesmo os Jerónimos e, quem sabe, mudar os nomes às coisas, que a língua tem que servir a revolução, a Praça já não pode ficar presa do Império, agora devia ser rebatizada politicamente, talvez uma implausível “Praça da Vitória Socialista sobre a Pandemia”...
Não há dúvida: Salazar já se foi, mas legou-nos toda uma genética de tiques salazarentos (e não interessa para o caso quem faz deles um modo de sobrevivência). A “dona cunha” alcançou verdadeira cidadania no Estado partidocrático que suavemente governa a nação. E a reescrita do passado em versão propaganda alcandorou-se a “orgulho da raça”, como diria o velho de Santa Comba, virando a história do avesso em nome da fancaria ideológica do politicamente correto! Ou seja, sonegar legitimidade ao passado para evidenciar uma cretina legitimação do presente: Museu dos Descobrimentos, não, que é coisa fascista; Memorial da Escravatura, sim, que hoje soa bem e sustenta com vigor discursivo a redação conveniente de uma “nova História”!
Contra a utilização revisionista da História pelos “Ascensos” do costume, é obrigatório citar José Matoso:
“Temos de respeitar os factos, sem pretender julgá-los”, ou pô-los “ao serviço de uma causa” (...) “A narrativa da História é a que conta as vicissitudes desta tentativa do homem para se apropriar do bem e do mal”.