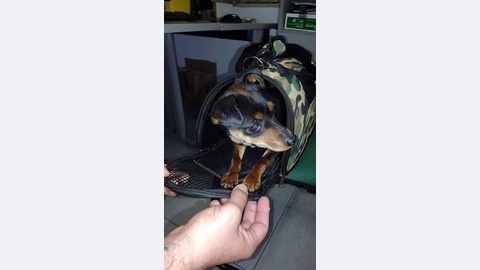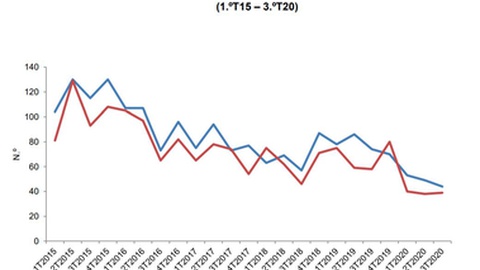O Silêncio
O silêncio de que fala o último romance de Don DeLillo não é aquele da contemplação mística, e muito menos o da famosa frase de Pascal, “o silêncio dos espaços infinitos me apavora”. Não: o que emerge e que de uma forma quase dolorosa se apreende na leitura de “O Silêncio”, é o rumor visceral do medo, a funda inquietação sem resposta perante o repentino apagão global, o ruído incolor e agora silencioso dos écrans que tutelam (permanentemente) a nossa vida em modo digital.
Don de Lillo é um dos mais aclamados autores norte-americanos. Os seus romances são vincadamente contemporâneos: “Lybra”, centrado no assassínio de John Kennedy; “Cosmopolis”, a Nova Iorque da especulação bolsista; “Mao II”, o terrorismo internacional; “O Homem em Queda”, com o atentado das Torres Gémeas. Estes e outros títulos, como “Ruído Banco” ou “Submundo”, são atravessados pelos temas mais caros a este autor: a morte, o indivíduo na multidão, o fim do mundo. E, comum a quase todos, o medo, geralmente associado à tecnologia, aos seus impasses e desastres. É o caso de “O Silêncio”, curiosamente publicado poucos meses antes da pandemia, mas onde já se fala deste nosso “ar do tempo”:
“E não é estranho que certos indivíduos pareçam aceitar resignadamente o confinamento, a cessação do fluxo? Será uma coisa por que sempre ansiaram, subliminarmente?”
“O Silêncio” é o romance mais curto de Don DeLillo (cerca de 80 páginas): pela secura da escrita e do tema, pode ser visto como uma “síntese” da sua obra. Apenas cinco personagens, reunidos numa sala para verem a final do Super Bowl, que é sempre imperdível para um americano. Os donos da casa aguardam a chegada de um casal amigo vindo de Paris: quase no fim da viagem, colapsam todos os sistemas de controle e o avião aterra em emergência. O casal sobrevive, mas quando finalmente se junta na sala aos amigos em espera para o grande espetáculo, dá-se um apagão geral e todos os sistemas colapsam: a televisão, o telemóvel, a internet, o frigorífico. Percebem que não é só no apartamento, mas em toda a cidade. Parece que o mundo se calou de repente: omnipresente, fica só um pesado silêncio espectral, cortado aqui e ali pelos diálogos, conjeturas e monólogos das personagens, claramente órfãs da tecnologia. O silêncio dá-lhes oportunidade de falarem, ou seja, de exporem os seus medos. Logo ecoa a mais comum teoria da conspiração: “Pode ser que um algoritmo tenha tomado as rédeas. Os chineses... os Beijing Barbarians. Juro que não estou a gozar. Quem faz figura de urso somos nós, eles desencadearam um apocalipse seletivo da Internet. Estão a ver o jogo, e nós não”, diz Martin, o jovem cientista que cita Einstein a cada passo e a sua “premonição” (em epígrafe na abertura do romance): “Não sei com que armas se vai travar a Terceira Guerra Mundial, mas sei que a Quarta Guerra Mundial se vai travar com paus e pedras”. O caos tecnológico instaura a perplexidade do silêncio, em que uma nova e dramática perceção da relatividade do espaço-tempo só pode desencadear as mais fundas interrogações — o sentido da vida e da morte, e o quanto a tecnologia e os seus usos podem “anular” esta existência e o mundo tal como o conhecemos. O medo antecipa o fim.
Agora, ao cair da noite, um silêncio pandémico sobe do chão qual névoa insana que tudo envolve (como num filme de Carpenter?) E não é que esta leitura, agora, face à memória inquieta da vida como a conhecíamos (quando éramos felizes e não sabíamos), nos instala numa estranha sensação, apreensão, intuição, do colapso por vir?