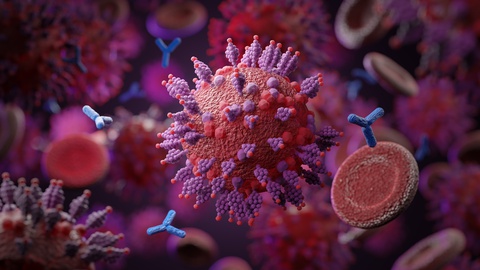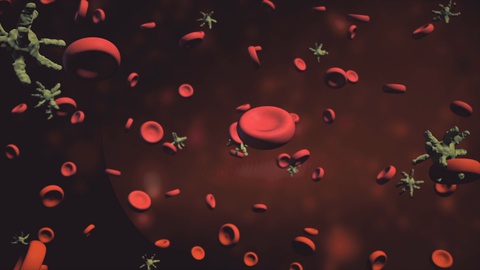Niterói – a ilha no Portugal Pequeno
FOTOGRAMAS
Esta semana centramo-nos no contexto da família madeirense Fernandes em Niterói, Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, a partir das memórias de Márcia Fernandes, minha interlocutora privilegiada no processo de documentação desta diáspora a partir de imagens fotográficas. Ou melhor, minha interlocutora privilegiada no processo de documentação de imagens fotográficas a partir das especificidades de uma diáspora e das vidas transnacionais que também a pautaram.
Em 1960, sua mãe Eugénia, seu irmão José Manuel e boa parte da sua família materna chega a Niterói juntando-se ao pai Marcelo. Márcia refere que o “irmão vem a conhecer o pai na nova terra quando já́ tem dois anos e meio, vivendo um estranhamento e muitos ciúmes ao ter que dividir sua mãe com um «estranho»”.
Em Niterói, “a colónia lusitana é grande” e a cidade vizinha do Rio de Janeiro “chega a ter um reduto chamado Portugal Pequeno, no bairro da Ponta da Areia. A colónia tem uma intensa rede de relacionamentos e as festas, casamentos e outros eventos são marcados pela quase exclusiva presença de portugueses. Talvez numa tentativa de preservar a identidade, os costumes, esse grupo via com bons olhos os casamentos entre os seus membros.”
Ora de acordo com a historiadora Andrea Telo Corte no artigo “A territorialidade portuguesa em Niterói – 1900 – 1990”, existia uma forte comunidade madeirense em Niterói que tinha sociabilidades e costumes ocasionalmente distintos dos portugueses continentais. Corte refere: “a narrativa não deixa dúvidas sobre o passado de ressentimentos que envolvem a relação da Ilha da Madeira com Portugal, dando margens à̀ emergência de uma dimensão étnica do grupo. Esse «sentimento» foi reatualizado na sociedade de acolhimento à̀ medida que os madeirenses, (...), buscou diferenciar-se dos continentais, ao construir em relação a eles um discurso de alteridade.”
Refere ainda Márcia a partir das suas próprias impressões que “os estabelecimentos comerciais, as sociedades, os empréstimos eram tratados nas conversas dos homens”, e que “o bordado era o assunto das mulheres e sua possibilidade de ganho, havendo algumas que se envolviam nos negócios dos maridos e os auxiliavam no balcão. As que permaneceram bordando precisaram de ser mediadas por uma senhora madeirense que fazia a ligação entre os trabalhos realizados e o público que comprava o famoso bordado madeirense.” Após uma passagem de três anos por Caracas, Marcelo Fernandes, natural da Ribeira Brava e pai de Márcia, instala em Niterói uma venda/bar, deste modo parecendo enquadrar-se no perfil estabelecido por Corte mais adiante no seu texto. “Em Niterói, expostos à pressão de um mercado de trabalho pouco desenvolvido e bastante disputado, tanto por continentais como outros grupos de imigrantes, os ilhéus da Ribeira Brava constituíram verdadeiros monopólios madeirenses na cidade, como as atividades de leiteiros e carroceiros, nas décadas de 1930 e 1940, e, a partir dos anos de 1950, as quitandas. Vale dizer que a partir da década de 1950, muitos dos que desembarcaram na cidade, já́ haviam passado por outras experiências emigratórias. Boa parte vinha da Venezuela e de Curaçao, trazendo consigo as esposas e algum dinheiro para começar a vida como pequenos proprietários.” Sobre a prática e economia do bordado a historiadora acrescenta que esta foi uma actividade profissional comum no círculo das mulheres da comunidade madeirense de Niterói. “Para além da ajuda sem remuneração que prestavam aos maridos, eram, nas horas de folga – os intervalos entre o jantar e a hora de dormir – bordadeiras. Bordavam para casas comerciais ou para outras bordadeiras. Entre as bordadeiras, algumas se destacaram ao formar significativas redes de clientes e de artesãs, apesar disso não constituíram uma cooperativa, fato comum em outras cidades do Brasil, como foi o caso de Santos, onde esse tipo de organização se transformou em um ícone da presença madeirense na cidade.”
Márcia conta ainda um episódio familiar trágico que se dá logo nos anos iniciais da vivência em Niterói: “Essa tragédia de junho de 1962 é um duro golpe para toda a família. Augusta [avó materna de Márcia] é atropelada por um trólebus. Foi colhida pelo veículo quando caminhava na calçada a um quarteirão de sua casa, e acabava de sair com a filha Maria, a mulher de José e o filho deste, Zézinho. Na confusão, o menino desapareceu sendo encontrado somente no dia seguinte, estava sob os cuidados de uma vizinha. Em desespero, os filhos se amparam, na medida do possível para lidar com a fatalidade que levara Augusta aos sessenta e três anos de idade. No mês seguinte eu completaria um aninho. Por ser minha madrinha, minha avó Augusta havia comprado para mim um vestidinho e um par de sapatos. Esses objetos foram jogados fora por minha mãe que conta um ato de profunda dor e desespero.”


![Arquivo pessoal de Eugénia Fernandes, 1966 - Manuel Fernandes [tio de Márcia Fernandes], João
Fernandes [tio de Márcia Fernandes] e José Gordo [amigo da família], no bar de
Marcelo Fernandes a comemorar o golo de Eusébio em 1966 que eliminou a seleção
do Brasil do Mundial de Futebol.](https://static-storage.dnoticias.pt/www-assets.dnoticias.pt/images/configuration/OR/23f3_6B80zJL.jpg)
Ana Gandum
com a colaboração do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.