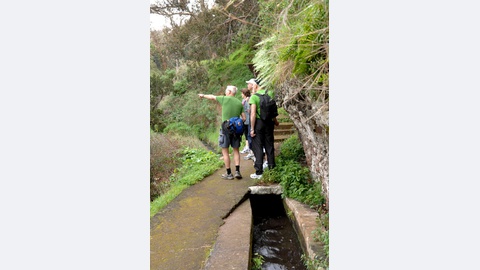Nós e os outros
Todos queremos encontrar o nosso estilo pessoal, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de estar no mundo
Numa sociedade que valoriza a individualidade e a competição, nem sempre admitimos como precisamos uns dos outros. E, no entanto, muito do que somos, do que pensamos e do que fazemos está ligado às relações sociais que mantemos, aos grupos a que pertencemos.
Qual é a verdadeira importância dos laços sociais na nossa vida? Até que ponto o que somos depende de quem nos rodeia? Como pode um grupo transformar o nosso comportamento? Que consequências tem o isolamento social na nossa vida?
Ao procurar responder a estas questões, pomos a ideia de individualidade em perspectiva e mostramos quanto devemos à interacção com os outros. O sermos capazes de ter sucesso por nós próprios. Todos queremos encontrar o nosso estilo pessoal, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de estar no mundo. Gostamos de saber que temos uma personalidade própria, que temos uma maneira particular de vestir e pensar e evitamos os que acham que somos iguais a qualquer outro. “Ter personalidade”, “saber o que se quer”, “pensar pela nossa própria cabeça” são atributos muito bem vistos na nossa sociedade e, por isso, muitas campanhas publicitárias utilizam esta ideia de que somos únicos, como forma de promover produtos e serviços.
É claro que somos diferentes de todos os outros. Temos um ADN único. Temos uma experiência de vida diferente da de qualquer outra pessoa. Somos o resultado de todas as influências, e isso faz de nós seres únicos. Mas seremos mesmo indivíduos independentes e assim tão diferentes dos que nos rodeiam? Teremos mesmo uma personalidade que nos distingue e torna os nossos comportamentos coerentes ao longo do tempo?
No ponto de vista da psicologia social esta ideia de independência e individualidade é construída procurando mostrar que somos muito mais um produto da interacção com os outros do que o queremos aceitar. As nossas opiniões, as nossas escolhas e mesmo a ideia que fazemos de nós próprios são determinadas em grande parte pelas relações que mantemos com as outras pessoas. Sem o ambiente social em que nos movemos (ou outro ambiente social) seriamos pessoas diferentes. Em diferentes contextos sociais construímos facetas diferentes – e isso deveria por em causa as ideias que gostamos de manter de nós mesmos como seres autónomos, consistentes e autodeterminantes.
Neste sentido, Zygmunt Bauman, em 2016 propôs-se reflectir sobre o estado da humanidade fazendo a história do recurso ao prenome “nós”. Diz a este propósito Tolentino Mendonça: recordo-me de ouvi-lo dizer que esta palavra decisiva começou o seu percurso da forma mais restritiva, pois grupos humanos protegiam a sua identidade fechando-se em agregados minúsculos. Por exemplo, o primeiro “nós” da história humana não ultrapassava o reduzido círculo de uma centena de pessoas. Além dessa realidade, os primeiro humanos não conseguiam dizer “nós”. A humanidade era então composta por bandos de caçadores e recolectores que podiam mover-se conjuntamente e assegurar a alimentação do próprio grupo. O “nós” terminava abruptamente nessas fronteiras. Tudo o resto era “outro”. E o outro era olhado como inimigo.
Com o tempo, o número daqueles que cabiam dentro do “nós” foi crescendo e assim se chegou à subsequente noção de tribo e de comunidade, de nação e de império. Do estritamente local passava-se a global, sublinha Tolentino Mendonça. Por exemplo, Bauman para descrever a mecânica da história insistia em dois princípios: o primeiro é que a construção da civilização (tanto no passado como no presente) ocorreu sempre no balanço entre exclusão e inclusão; a segunda, é que a civilização avançou apenas quando conseguiu alargar as fronteiras da inclusão e fazer regredir a prática da exclusão. Por isso ele afirmava que o nosso futuro depende da capacidade de expandir o prenome “nós” e de reduzir o espaço dado ao pronome “eles”, coisa que só acontecerá se soubermos erguer uma sociedade mais empática, humana e dialógica.
Eu próprio ao reflectir sobre este tema e na preparação deste artigo vivi dois momentos, eventos. Um foi a peça de teatro de William Shakespeare onde esta obra que “fala da falta de solidariedade e da incapacidade de ver o outro “é o ringue ideal” para o teatro se encontrar com o seu público, pois o seu encenador, Nuno Cardoso, usou para encenar esta peça sobre o ocaso de um Rei, ao tentar desenhar uma posteridade a seu contento se condenou a assistir à ruína do seu mundo e à morte dos únicos seres que amou.
O encenador vê também nesta peça, que Shakespeare faz decorrer numa remota Grã-Bretanha anterior ao Cristianismo, afinidades com os estranhos dias que vivem no nosso mundo globalizado do século XXI.
De certo modo, também tínhamos, como o Rei Lear um plano bem feito, mas que a pandemia de repente dinamitou, diz.
E ao destruir aquilo que pensávamos ele veio sublinhar o que não era pensado, um conjunto de problemas endémicos que estavam disfarçados na sociedade em que vivemos: o racismo, a diferença de género, a surdez entre as pessoas, a solidão dos mais velhos, a incúria.
Questões que reencontrei em Lear, uma peça que “fala da falta de solidariedade e da incapacidade de ver o outro”.
O outro evento que passou por mim e que tem muito a ver com o tema que abordo hoje foi o lançamento, há dias, de um novo livro de Valter Hugo Mãe: As Doenças do Brasil.
O escritor chama à sua obra uma aventura na linguagem e na imaginação e, mais do que um romance, sente-se que o seu livro é um poema. “As doenças do Brasil” toca em pontos sensíveis da História, desafia o lugar da fala, vai às feridas do colonialismo, à violência por detrás da grande glória brasileira: a mestiçagem.
O Autor, Valter Hugo Mãe, vai mais longe e afirma: “Acho insuportável as pessoas que diante das tragédias ficam a passear vaidades e a fazer de conta que em nada reparam. Não tenham como não reparar no que está a acontecer ao Brasil. É claro que o livro acaba por ter uma intenção subjacente de defesa dos povos originários, de defesa dos índios, de defesa dos negros, das periferias, solicitação de uma branquitude decente, de uma cidadania decente, de uma participação de todos. Tem essa coisa política porque não consigo deixar. Não sou político no sentido em que jamais serei partidário, mas enquanto pessoa e voz pública não me sentiria bem se não contribuísse minimamente e sobretudo se não afirmasse que sei o que se está a passar, disse o escritor.
Num artigo admirável, de Tolentino Mendonça, num dos últimos números da “Revista Expresso” citava um dos escritos de Wittgenstein em que o filósofo afirmava que “O Mundo” dividido entre “nós” e “eles”, é um mundo assente em tantas deformações. Sabemos como a insistência na contraposição dualista favorece apenas a hostilidade e o medo, em vez de incentivar a hospitalidade, o encontro, a prestação do bem comum. Não tenhamos dúvidas: a experiência da pandemia só nos servirá como alavanca se activar mecanismos de construção do “nós”, tornando-nos a todos co-responsáveis por uma política de esperança. Em vez de dizermos “eles”, devíamos ser mais capazes de dizer “nós”. Falando dos pobres, dos excluídos da propriedade económica, da multidão daqueles que o mercado de trabalho condena à precariedade, dos jovens a quem não se oferece uma perspectiva de amanhã, dos idosos considerados pelas nossas sociedades como um peso e deveríamos ter a capacidade de dizer “nós”. Falando daqueles que não estão em igualdade de oportunidades ou são apressadamente remetidos para um equívoco estatuto de minoria devíamos ser capazes de dizer “nós”. Falando dos migrantes e dos refugiados, deveríamos ser capazes de dizer “nós”, alicerçando-nos no reconhecimento de uma condição universal, acrescenta Tolentino de Mendonça.
Ainda não encontramos os instrumentos para implementar o “nós”. Nesse sentido, creio, uma tarefa urgente, para esta estação que vivemos, é aprofundar o significado dessa palavra.
Assim espero…