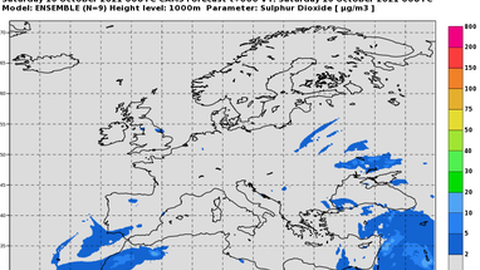Aculturados sem patente
“Não falo de desrespeito religioso ou racismo, falo sim de um movimento de “extrema-correta” que vê num boomerang da Chanel ou num poncho da Billabong um ato deliberado de furto cultural”
A quem pertence a cultura? Esta é exclusiva ou podemo-la partilhar? Se não a pagarmos conta como roubada? Tem patente e apropriamo-nos indevidamente?
É como uma matrioska: quantas mais questões se abrem, mais aparecem. A vida num mundo globalizado tem destas coisas, tudo pode e deve ser questionado, sempre que, no fim, se consiga acrescentar valor. E este questionar agrega de facto conteúdo à cultura em si, oferece até na maioria dos casos uma melhor compreensão de cada diferente perspectiva.
Contudo, será que ainda assim devemos discutir quem é o seu dono?
Primeiro temos de compreender como séculos de trocas comerciais, mescla, guerras ou acontecimentos nos trouxeram até aqui, solidificando aquilo que assumimos como as nossas diferenças e costumes. Depois, há que entender que partilhando um espaço comum desde sempre - o mundo - o contacto quer fosse amistoso ou mais hostil era inevitável, a geopolítica dos impérios, das nações ou dos reinos foi moldando, por isso, muito mais que países: moldou pessoas, modos de pensar e de viver.
Como efeito surgiu um sentimento algo “bairrista” da cultura, um sentido de pertença, como se algo nos tivesse sido dado, como um legado social que teríamos de carregar - e proteger se assim tivesse de ser - até à próxima geração.
No entanto, do mesmo modo que herdámos tradições, dialetos e terras, foi-nos também entregue uma “batata quente” de dívidas e situações meias resolvidas do passado.
Foram inúmeros os povos escravizados, roubados ou extintos. A lei do mais forte imperou quase sempre: chegavam, viam e apropriavam-se impondo o seu roque.
A apropriação cultural pode ser definida assim: como um modo de opressão de uma maioria sobre um grupo, com o simples objetivo de esgotar a sua existência ou simbolismo.
Hoje, parecemos sim obrigados a carregar uma culpa da qual nada fizemos para a ter. A era da liberdade, do digital, das oportunidades, da multiculturalidade tem também em si quem queira cobrar o preço do passado e condenar todos por “apropriação”.
Os principais exemplos deste lápis azul da censura baseiam-se em pressupostos austeros e intransigentes, sobretudo na moda. Onde se um elemento originário de outra cultura é usado para fins estéticos como padrões tribais ou adornos simbólicos, o lápis rapidamente corta e risca. Ou definir quem pode ou não usar um penteado com base no seu tom de pele. O lápis não perdoa, etiquetar e julgar é o seu objetivo, porque tudo é roubo e se não o é pela patente, é pela intenção.
Não falo de desrespeito religioso ou racismo, falo sim de um movimento de “extrema-correta” que vê num boomerang da Chanel ou num poncho da Billabong um ato deliberado de furto cultural.
Não podemos deixar que haja quem queira regredir centenas de anos e segregar cada país na sua capelinha. Pureza na cultura não é cultura nenhuma. As etiquetas não fazem falta a nenhum povo. O respeito, a identidade e o valor, esses sim são imprescindíveis. Uma herança própria e distintiva, que se adapta e cresce em contacto com a de todos os outros. Querer castrar a criatividade, a miscigenação, é querer um mundo mais pobre e menos inclusivo, ainda menos na realidade que vivemos hoje: uma aldeia global partilhada.
A cultura não pode ser exclusiva apenas para alguns. Vejam por exemplo na música: o jazz nasce nos EUA fruto de influências europeias e africanas, e agora é apreciado um pouco por todo o mundo; o sushi, tradicional do japão mas degustado e em fusão no mundo inteiro.
É preciso seguir este caminho, onde todos são diferentes mas conjugam-se e mesclam-se. A fluidez cultural é para manter, a aculturação para continuar, sem dono e sem patente.