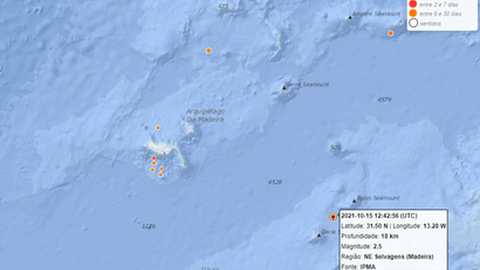A democracia (ainda) funciona?
A disfunção no nosso sistema democrático(e de representação) é notória e pública
1. A interrogação feita no passado conserva-se (e impõe-se) a cada século que principia: que género de democracia sobreviverá no século XXI?
Uma notícia de fevereiro de 2021, num semanário de referência nacional, denunciava que todas as regiões do mundo “registaram um retrocesso democrático em 2020” (num universo de 167 países e territórios examinados), e que a remoção das liberdades individuais nas democracias desenvolvidas foi a característica mais notável, como é o caso de Portugal e França. Referia ainda este órgão de imprensa que a pandemia da Covid-19 “agravou as falhas democráticas existentes na Europa Oriental e na América Latina, com controlos e balanços fracos, corrupção persistente e pressões sobre a liberdade de imprensa”. Até aqui nada de novo, comentaria parte significativa dos portugueses! Todavia, já um ano antes outro matutino nacional informava que desde 2019 há mais autocracias do que democracias no mundo e que “a Hungria passou a ser o primeiro Estado não democrático da União Europeia”. Abreviando, hoje vivemos num mundo em que mais de metade da população é governada por ditadores, oligarcas e regimes militares, no entanto, quase todos nós conciliamos na opinião de que a democracia é a marca inconfundível de uma sociedade moderna e civilizada.
Ao que parece terá dito um dia o grande estadista Winston Churchill que “a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros”, frase tantas vezes repetida e que também aqui ajuda a defender a força e as virtudes (ainda que refletindo sobre a atual carência de parte delas) da maioria dos sistemas políticos ocidentais.
2. Reza a história que em 1961 Mohammed Zahir Shah – último rei do Afeganistão (1933-1973) – andava a caçar perto da aldeia de Aï Khanoum, nas margens do rio Amu Darya (Oxus), quando viu os restos de uma coluna de pedra, decorada com folhas de acanto, emergindo da areia, e reconheceu-a como uma coluna coríntia, ali a mais de 1500 milhas da Grécia. Pouco tempo depois, escavações realizadas por arqueólogos franceses puseram a descoberto uma antiga cidade grega dos séculos III e II a.C., com um enorme ginásio, um teatro, um centro administrativo (ágora) e fragmentos de um texto filosófico. Ali, numa terra imensa, cheia de contrastes, num terreno inóspito e com montanhas umas a seguir às outras e onde a guerra impera nos últimos quase 50 anos – onde clãs e tribos têm uma importância fulcral na organização social, para além da religião contribuir fortemente para a construção de uma identidade (85% são muçulmanos sunitas, os xiitas perfazem entre 10-15% e os hindus, budistas, parses, sikhs, bahá’í e cristãos constituem apenas 0,3% da população) –, uma guerra contra duas das maiores potências mundiais (primeiro contra a incursão de Moscovo e do grande Exército Vermelho, entre 1979 e 1989, e já no novo milénio contra a invasão dos EUA e aliados, após os atentados de 11 de setembro) mediada por uma violenta, sangrenta e dolorosa guerra civil, neste país imenso, dos mais pobres e denunciador das maiores carências do mundo, também a matriz grega aqui esteve presente assim como uma das suas mais revolucionárias invenções: a democracia.
Ora, dois mil de duzentos anos depois, a tentativa inconsciente – e irresponsável – do Ocidente de intervir e de tentar expandir o seu modelo/visão da democracia para outros países, ignorando a cultura, os valores e as tradições dos seus povos (e o nível de corrupção instalada nas sociedades), mostrou-se novamente estéril. Os acontecimentos do dia 15 de agosto de 2021 demonstraram que a estratégia americana para o Afeganistão falhou e que a democracia é um sistema político que gera grandes expectativas, promessas, ilusões e “deceções” quando não funciona, mas, particularmente “quando se faz bem” (Daniel Innerarity). No Ocidente, parece que quando funciona bem converte-se cada vez mais num regime de desvendamento, “em que se vigia, se mostra, critica, desconfia, protesta e impugna”; num regime em que o espaço público se enche de coisas negativas, onde os escândalos são ampliados, onde ninguém elogia o adversário e as suas boas ideias/propostas, a honradez não é notícia, onde (muitas vezes) prevalecem os interesses corporativos/particulares em detrimento do Bem Comum, enfim, onde o desacordo, a mentira e a corrupção aparentam dominar. Esta é sem dúvida uma perceção negativa da democracia, uma visão desencantada com um sistema político que aponta para ideais inalcançáveis, que assenta em algo inacabado e sempre aperfeiçoável, permanentemente em aberto, e por isso em crise e tudo isto é inaceitável para os talibãs (“estudantes de teologia”) e para parte significativa de uma nação que rejeitou mais uma vez o exercício da democracia.
3. É comum dizer-se que na política “quase tudo é possível e nem tudo é verdade”. Os resultados obtidos nas autárquicas deste ano testemunham-no! Apesar das cerca de 12 370 listas candidatas aos órgãos autárquicos para o ato eleitoral do dia 26 de setembro (1 035 de grupos de cidadãos eleitores), ainda assim a abstenção ultrapassou os 46% e foi a segunda taxa mais alta em eleições para o poder local, não esquecendo os mais de 125 mil votos em branco e 79 185 considerados nulos.
“Está viva!” e “Funciona a democracia!”, dirão, certamente, os vencedores saídos de mais uma longa noite de domingo. Não obstante o crescente desagrado – e descrédito do regime –, o sistema não tremeu e por isso ninguém se mostra preocupado (e interessado) em saber quais as razões que levam tantos portugueses a não irem depositar o seu voto nas urnas.
Numa rápida análise de alguns resultados nacionais (e regionais), ficou mais uma vez evidenciado que a Política é, em determinados momentos, impiedosa para uns e generosa para outros. Por exemplo, no caso de Lisboa, Fernando Medina perdeu 25 256 votos (20%) e Carlos Moedas ganhou só 2 801, mas ainda assim ganhou a cadeira do poder na maior autarquia do país. Contudo, “surpresas” e mudanças também ocorreram na primeira capital atlântica, o Funchal, onde a nova coligação “Confiança” foi vencida pela coligação “Funchal Sempre À Frente”, ainda que tenha obtido mais votos que em 2017. O desgaste de 8 anos de governação, os diversos erros políticos, os casos, vícios, as ‘saídas’ do executivo, as ilusões, os excessos, as vaidades e egoísmos, a falta de humildade caldeada com certa arrogância, os problemas não resolvidos e promessas por cumprir, a ausência de estratégia (ou inábil) misturada com uma porção de desinformação, tudo isto e muito mais levou a que quem detinha o poder acabasse fatalmente por o perder. Um último exemplo: ao vencer novamente a Presidência da Câmara da Figueira da Foz, o “dinossauro” Pedro Santana Lopes mostrou que resiste mesmo a (quase) todas as adversidades – e a longas travessias do deserto – e que tem mais de sete vidas, pelo menos na política.
A disfunção no nosso sistema democrático (e de representação) é notória e pública, mas “assim é a democracia”, dirão uns, como que encolhendo os ombros e empurrando com a barriga este profundo e sério problema. Em democracia tanto se ganha como se perde, é um facto, mas o desencanto quase generalizado em relação ao sistema político-partidário instalado leva cada vez mais pessoas a sugerirem que poderíamos viver sem ele e/ou que é preciso restaurar a democracia. Será que é chegada a hora de tão avultada tarefa?