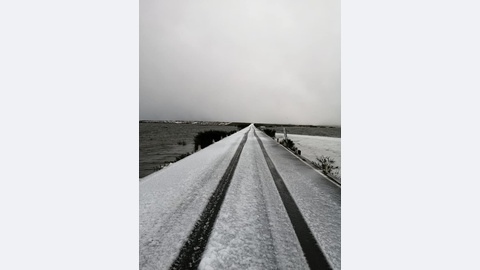Era preciso fazer anos e crescer
Gosto de Janeiro, apesar do frio, de andar com o dinheiro contado e daquela impressão de que todas as pessoas estão a recuperar de uma ressaca. As lojas estão vazias e pouco sobra dos saldos e, pela rua, as decorações e as luzes de Natal parecem esquisitas, coisas que ficaram da euforia do Dezembro, mas Janeiro é o meu mês e eu gosto de fazer anos.
Uma parte de mim nunca deixou de ser aquela miúda gordinha, tímida e sonhadora que, todos os anos, imaginava uma festa de anos e acabava por se conformar com as roupas e os sapatos estranhos que a minha mãe descobria nos saldos de inverno. No lugar das sapatilhas Nike do centro comercial e do casaco de ganga vinham umas camisolas de angorá, tecido a metro para fazer saias e sapatos fora de moda.
E era preciso coragem para, depois, subir pela rampa dos Ilhéus e sentar-se no muro que dava para o campo de futebol, certa que, no meu caso, o bom era ninguém dar por mim. O que, na verdade, consegui fazer durante a parte mais crítica da adolescência, ali entre os meus 13 e 15 anos, quando a minha mãe ainda escolhia a minha roupa e eu lutava para fazer passar as calças pelas ancas.
Eu sentia-me presa a uma armadilha da natureza, emboscada dentro de um corpo grande, com formas de mulher, onde no cimo estava a minha cara de menina e a minha cabeça de adolescente. E uma adolescente confusa, enfiada em saias com os modelos copiados às da minha mãe, a tentar ser transparente numa escola pequena e frequentada pelos filhos da classe média da cidade.
A classe média da cidade e uns quantos como eu, que vinha lá do Laranjal, onde as festas de anos se faziam com um bolo, azeitonas, queijo aos quadrados e Brisa Maracujá para empurrar, vinham os vizinhos e a família e não era preciso mais. E, na roupa, não havia marcas ou modas, nem o nosso gosto contava para a história. As mães, como a minha, decidiam tudo e não perdiam sequer tempo a ouvir os sonhos.
Eu quis muito ter um Casio, daqueles que ouvia o apito da hora no autocarro e nos pulsos dos outros, mas a minha mãe fez que não ouviu e tirou-me as ilusões de ter um gira-discos, que a música dava de graça na rádio. E não me comprou uma mochila, nem me deixou inscrever em aulas de ginástica quando eu já me imaginava toda vestida como a Jane Fonda e magra como as raparigas das revistas.
Mas todos os anos eu sonhava que, quando chegasse a Janeiro, talvez pudesse calhar um relógio, qualquer coisa que me fizesse ser parte, que me abrisse as portas das festas de anos dos outros, daqueles meus colegas, sempre tão certos e adequados, que entravam pela escola tal e qual como o rapaz do Regresso ao Futuro, tão bonitos naqueles coletes de penas, de jeans e sapatilhas. E faziam festas com discos a tocar, quase como as matinés das discotecas.
Ou como eu imaginava que eram as matinés, que isso também estava fora do meu alcance. Eu tinha aquelas roupas, ouvia música na rádio, ia aos encontros do grupo de jovens da paróquia e sonhava em cima do terraço com o dia em que a minha vida seria apenas um assunto meu, mas para isso era preciso fazer anos, crescer, ser adulta. Ser grande, independente, esse foi o meu maior sonho de adolescência.