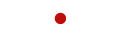Voltar ao mesmo
E como reagimos ao cinismo? Da única forma de que não se deve reagir, que é com sinceridade
Os ingleses bateram, esta semana, um recorde de cinismo. A proeza começa na premissa: o Reino Unido, um dos países mais afectados pela pandemia, resolveu decidir quais os Estados para os quais seria “seguro” deslocar a sua inusitadamente infecta plebe no Verão.
Portugal, país há pouco horrorizado com a hipótese de um espanhol atravessar a fronteira para comprar tremoços, alinhou-se com os demais como mendigos desbarretados à saída da missa. Só aí reparou, porém, que todos recorriam à táctica inversa: em vez de fingirem doenças que não tinham, os pedintes escondiam aquela de que evidentemente padeciam. No fim desta deprimente liturgia, Portugal encontrou-se numa situação inédita: de bolsos vazios, sim, mas por défice de trapaça!
Com o país assim ferido no âmago da sua identidade e auto-estima, o nosso mais antigo aliado atirou-nos um caroço. Tinha, afinal, incluído as ilhas portuguesas nos “corredores verdes”! As redes sociais entraram em ebulição. Era um prémio para as populações prevenidas, um bálsamo para um turismo adormecido, uma transfusão para uma economia exangue! Viva o Reino Unido! Viva a Madeira!
Queriam! Madeira e Açores, como o país, obrigam afinal o inglês a 14 dias de quarentena à chegada. Assim decretou Sua Majestade, antes que as Canárias, as Baleares, Bali e Zanzibar venham pedir o mesmo, que pode começar a dar zebra e convém guardar as cartas juntinho ao peito. Eis-nos então: riscados das férias inglesas, riscados do mapa da concorrência, e com o requinte de crueldade que só o adding insult to injury verdadeiramente exprime.
E como reagimos ao cinismo? Da única forma de que não se deve reagir, que é com sinceridade.
António Costa colocou no Twitter um gráfico, primário, que compara a média de casos no Reino Unido com a média algarvia. “Which is the safest place to stay?”, pergunta o PM? “I dont’t know”, terá respondido o único inglês que o seguia, “mas vale a pena ir a guiar de Sevilha?”,
O Ministro dos Negócios Estrangeiros cumpriu, entretanto, um expediente classicamente português: desagradado com a aplicação de uma regra que o desfavorece, empinou o nariz: “não é assim que se tratam os amigos”.
Estes galhardetes, entenda-se, serão tão populares quanto ineficazes. Os ingleses agarram-se à objectividade porque sabem que os números, mesmo martelados, são a única garantia da imparcialidade, ou da aparência dela. António Costa e Santos Silva não falam para a diplomacia inglesa, que nisto será inamovível. Falam para os portugueses, e convencem-se, por soberba, que o orgulho também se come.
O episódio é curto, mas simbólico de um mal crescente e avassalador. A pandemia converteu-se em narrativa política. O choque com a decisão britânica não nasce só da realidade, mas também do contraste entre a realidade e o discurso. No discurso, vivemos ainda no melhor dos mundos possíveis. Portugal é um sucesso. Os ingleses são parvos. As ilhas, que não são “nossas”, que se amanhem. O Governo absorve os sucessos e deflecte os falhanços, como se a Covid-19 fosse um teste de popularidade. O Estado, entretanto, estende-se e domina, atirando-se a novos controlos nas empresas, na imprensa e na expressão, num ensaio mais ideológico do que propriamente pandémico.
A narrativa não se questiona nem contesta. O PSD votou a favor da extinção dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, que são agora mensais. Num comentário que revela o homem, Rui Rio afirmou que “o primeiro-ministro não pode passar a vida em debates quinzenais. Tem é de trabalhar”. Disse-o com toda a convicção, sem sombra de reserva ou ironia, como quem declara uma evidência. Para Rio, o Parlamento é intriga, ou um jogo de interesses sem legitimidade ou desculpa. Uma perda de tempo que desvia ou “bloqueia” Portugal. Existe, para ele, um “bem da nação”, e a agenda do seu procurador não se compadece com conversas inanes. A divergência, que a Assembleia representa, é no limite anti-patriótica.
No poder, um tal sentimento seria lastimável, mas compreensível. Na oposição, a frase é insondável. Responder perante os eleitores é parte crítica do trabalho do Primeiro-Ministro. Se é grave que Rio estenda um tapete sobre si próprio, é inaceitável que o estenda sobre quem votou em si.
O alinhamento é trágico. No ano de todos os perigos, de inaudito reforço do poder público, tudo evolui para esta mesmice, para uma estabilidade forçada, que não nasce da força do mandato, mas do estilhaço dos freios e da fraqueza dos contrapesos. O deslumbramento com o Estado promete, de resto, agravar-se, ou não fosse um resíduo da miséria. O horror ao risco, a obsessão com a autoridade, o facciosismo, e a ânsia pela esmola vêm, e virão sempre, da insegurança da pobreza. Crescendo essa insegurança, cresce o dispor, e decresce a vontade de se lhe opor.
Percebe-se a capitulação de Rio, e de tantos outros. Essa cultura resiste, resiste mais na pobreza, e o martírio não atrai muitos candidatos. É confortável seguir na esteira do Governo, esperar que se despenhe, colher o poder como um fruto podre. Mas o PSD, se me perdoarem o idealismo, nasceu para esse combate, e para impor um módico de racionalidade, libertação e trabalho a um povo historicamente subordinado às rendas, amparos e prepotências dos seus senhores. Esse propósito, no seu sentido mais nobre, tem um custo de popularidade que um líder se deve dispor a pagar. A sua rendição, assim consentida, simboliza a rendição do indivíduo e da empresa nos grandes partidos portugueses, e a abstinência da crítica, da alternativa e do risco durante a pandemia. É uma ameaça duradoura, e talvez definitiva, à nossa democracia.
É certo que resta, ainda, o Presidente da República. Mas não voltamos ao mesmo?