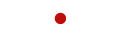O joelho e o pescoço
Por isso é hoje importante reafirmar que a luta contra a discriminação se realiza, não pela insubordinação, mas pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana
A 25 de maio de 2020, pelas 20h26, em Minneapolis, um homem de 46 anos foi executado pela polícia. Foi detido, algemado, imobilizado. Assim deitado, o seu pescoço foi esmagado contra o chão por um joelho azul, que ali permaneceu durante 8 minutos e 46 segundos, até lhe faltar o oxigénio de que precisava para sobreviver.
George Perry Floyd, a vítima, era negro. Como Beyoncé, nascera em Third Ward, um dos maiores bairros negros de Houston. Se é possível dizê-lo – e é – a sua vida é uma sucessão de lugares-comuns de um homem do seu tempo e circunstância. O basquetebol na infância. O estrelato no futebol americano de liceu, interrompido aquém do talento e além do patrocínio. Uma tentativa no colectivo de hip-hop de DJ Screw. Os biscates e o pequeno crime, refúgios do malogro das carreiras lícitas. Os amigos de então juram que é um bom gigante. Uma relação, dois filhos. Apanhado num assalto a uma residência em Houston. Cinco anos de prisão, negociados. Uma segunda relação, uma terceira filha. A partida para o Minnesota, na esperança de um regresso à casa de partida. De dia, camionista, à noite, porteiro num restaurante-bar de cozinha sul-americana. Os novos amigos garantem que é um bom gigante. Num lapso da sua reabilitação, o bom gigante tentou trocar uma nota falsa de 20 dólares. Cerca de 10 minutos depois, o joelho azul recordava-o, com o peso vazio, inerte e inamovível da autoridade, de onde exactamente ficava a casa de partida para quem nasceu em Third Ward.
Não foi uma tragédia aleatória. George não teria vivido, e sobretudo morrido assim se fosse branco. As estatísticas de detenção, encarceramento, execução são conhecidas e não enganam. Como disse António Araújo no Expresso, ser negro é por vezes suicídio involuntário. E pode também ser voto tácito de pobreza, marginalidade e exclusão.
O joelho de Minneapolis despoletou um tumulto de indignação, com repercussões em todo o Mundo. O movimento Black Lives Matter (‘BLM’), hibernado como tudo o resto, foi o único que irrompeu entre os dias dos vírus, e ganhou um balanço que se adivinha histórico. Esse balanço não se toma, porém, apenas por oposição ao racismo, mas por oposição a uma certa ideia de racismo, e só compreendendo essa ideia se compreende porque ontem se tingiu, em Lisboa, a cara do Padre António Vieira com o rubro da vergonha.
Se não fosse tão claro, seria talvez boa altura para esclarecer que é possível compadecer-se com George Floyd, e combater o racismo na lei e na prática, e nem por isso identificar-se com a ideologia BLM. Há pelo menos duas boas razões.
Em primeiro lugar, a doutrina BLM é identitária. Afirma a identidade como motor da política e mobilização social. Até aqui, tudo bem. O problema é que a defesa dessa identidade colectiva pressupõe uma película adicional de legitimidade, um complemento sem o qual o grupo fica em pé de desigualdade. Julga-se então que certas identidades (raciais, étnicas, nacionais, sexuais) merecem direitos e protecção especiais. É por isso que o BLM atribui – precisa de atribuir – ao racismo males que podiam ser imputados a outras origens, como a pobreza, a assimetria educativa e a exclusão. Os identitários precisam de demonstrar que dignidade humana é insuficiente, pois desampara os membros do grupo diante de uma sociedade putativamente organizada contra si.
Sucede que a dignidade humana é a única garantia de igualdade. A busca de uma identidade colectiva faz sempre sobressair o que nos distingue do outro, e não é possível afirmar essa identidade sem dividir artificialmente a realidade e criar novos antagonismos. Porque cada pessoa é uma compilação viva e complexa de inúmeras identidades – Pedro, português, branco, maritimista e duas vezes madeirense – , é no indivíduo, e não no grupo, que se devem ancorar os direitos e os deveres.
Em segundo lugar, a doutrina BLM é totalitária. É anti-pluralista, dogmática e revisionista. É anti-pluralista porque só admite quem esteja contra ou a favor, sem nuance ou critério. Dogmática porque parte de uma espécie de narrativa de secretaria, apoiada em reflexões sociológicas abstractas e especulativas, que sintetizam toda a experiência – como se do Texas para a Amadora só mudassem os chapéus. E é revisionista porque compreende, como Orwell, que quem controla o Passado, controla o Futuro, e quem controla o Presente controla o Passado. Para o totalitarismo anti-racista, é importante conotar o racismo com o Império, a escravatura e a experiência colonial, porque esse é o elo narrativo entre o Estado moderno e a injustiça racial.
Assim procedendo, o racismo torna-se num monólito: uma só coisa no tempo, e uma só coisa no espaço, que se derruba e subverte em todo o Mundo do mesmo modo, e com a mesma simplicidade de valores e pureza de intenções. É assim que as estátuas – todas as estátuas – se convertem em símbolos do racismo, só porque todas representam invariavelmente um Passado em que o racismo existiu.
Sucede que o racismo não se manifesta identicamente em Portugal e na América, e brota de razões e valores distintos num e noutro lugar. A própria História tem um contexto e um sentido. Atribuir à colonização africana um papel exclusivamente negativo – de violência, escravatura, racismo e exploração – seria tão parvo como reconhecer-lhe um papel estritamente positivo – de introdução à cultura escrita, ao Estado, ao ensino, à ciência, à medicina e ao urbanismo. Se o estudo da História é o estudo de um Presente documentado, a diversidade é agora tão importante como então, e suprimir qualquer destas variáveis seria um roubo e uma amputação. Uma análise diligente e disciplinada do Passado revela, talvez, que a iconoclastia americana – dirigida a estátuas de generais confederados e outras personalidades esclavagistas – não merece por cá a mesma indulgência e capitulação.
Tudo somado, baralhado e concentrado, dá no seguinte: o BLM não reclama justiça, mas vingança. Procura assacar responsabilidade histórica pela escravatura e segregação à maioria branca nos países ocidentais desenvolvidos, e engendrar – pela violência, se necessário – a devida reparação. Quer oprimir quem oprimiu, explorar quem explorou, insultar quem insultou. De entre tudo o que essa luta ignora, o mais grave é o principal: que só a democracia e o capitalismo ofereceram as condições para a introspecção e avanço de que depende a luta consistente e consequente contra o racismo.
No seu pior, o BLM é então uma versão dissimulada das ditaduras que começam no gosto, e acabam na boca e no bolso. Como projecto, arrisca-se a arregimentar facções e a promover movimentos de reacção e contrareacção, numa guerrilha de desgaste entre identitários e contra-identitários com beneficiários identificados e conhecidos.
O razoável conforto da democracia dá sono, e o sono da razão produz monstros. Perdeu-se, algures, o tacto para as ideias perigosas. E por isso é hoje importante reafirmar que a luta contra a discriminação se realiza, não pela insubordinação, mas pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana, estatuto radical e máximo da ordem política, de onde provém a igualdade entre todos, e a liberdade para conquistar a vida e a felicidade de cada um. É ainda da dignidade, e não do privilégio, que emana a promessa mais autêntica de estar, sempre, do lado do pescoço. Contra todos os joelhos.