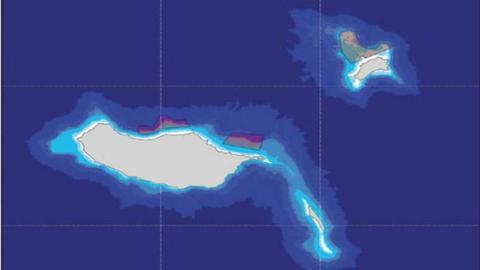Das longas raízes do racismo – e de quem as corta
«Quem tem o direito a definir-se, a dizer-se por si mesmo, a inscrever-se livremente numa história, numa comunidade, numa tradição?»Hugo Monteiro, «Racismos – a revisitação de um conceito»
Era o ponto alto da propaganda do Estado Novo, o apelo a um passado de grandeza que legitimava «O Império», a Guerra Colonial e a forma como se tratava os povos «conquistados». A partir de 1933, o Dia 10 de junho passou a ser o Dia da Raça, um momento de exaltação da nação do império colonial, hoje transformado numa narrativa idílica de colonos de brandos costumes que levavam os povos dos países colonizados e as suas riquezas a bom porto. Na verdade, enquanto potência colonial, fomos essencialmente outra coisa. Fomos o patrão que, nas ex-colónias, achava que podia bater no empregado e pagar menos porque era negro ou abusar sexualmente das mulheres da terra. Fomos aquela pessoa que, no final do Estado Novo, reclamou porque teve de dar explicações por ter atropelado um negro, esses bêbados que não sabiam poupar a miséria que generosamente lhes pagávamos. Fomos a mãe que proibiu a filha de brincar com os filhos e filhas dos empregados-escravos. Nós fomos tudo isto, e gostamos de pensar que não, que o nosso colonialismo foi português suave, uma marca distintiva da nossa «raça».
Nós ainda somos tudo isto, quando, em grupo, espancamos até à morte um cidadão português negro chamado Alcindo Monteiro, em 1995, e convidamos o responsável máximo por esse homicídio para programas de televisão, normalizando o facto de continuar a pertencer a um grupo neonazi. Nós somos o motorista de autocarro que, em janeiro de 2020, insultou Cláudia Simões e outra passageira com uma criança de quatro anos «Vocês, pretos, macacos, ficam aqui a encher o nosso país. Estamos fartos de vocês. Vão embora para a vossa terra» e chamou a polícia pelo facto de a filha de Cláudia, de oito anos, se ter esquecido do passe que ainda por cima era gratuito. Somos o polícia que, perante a recusa de Cláudia em sentar-se no chão, a derrubou e sentou-se em cima da zona lombar, pressionando-a contra o chão e asfixiando-a, tudo em frente à filha. O mesmo polícia que, já no carro, a insultou com «Grita agora, sua filha da puta, preta, macacos, vocês são lixo, uma merda» enquanto a esmurrou na cara. Nós somos os três agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que espancaram e asfixiaram até à morte um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa. Nós somos quem manda os lusovenezuelanos voltarem para a sua terra porque nos estão a roubar os empregos (que de qualquer forma não queremos). Somos quem, mesmo na emigração ou na diáspora, diz que apesar de estar noutro país considera que não deve ser permitido a outras nacionalidades escolherem a Região para viver. Que a Madeira é para madeirenses. Somos quem tenta justificar o assassinato de George Floyd pondo a circular um suposto cadastro (que já foi desmentido) e invocamos Jesus ao fazê-lo, incapazes de perceber os princípios básicos dos Evangelhos. Nós somos o homem que ouvi junto ao Apolo dizer que «aquele preto indiano» não queria mandar o «nosso dinheirinho». Nós somos quem ameaça anonimamente a organização de uma manifestação de solidariedade para com George Floyd na Madeira, ao ponto de a organização cancelar o evento. Seria hoje.
Tudo isto tem nome e não é bonito. São diferentes graus de racismo e xenofobia, uns mais sofisticados que outros, uns mais explícitos do que outros, estruturais, insidiosos. Substituíram-se os argumentos biológicos (em tempos houve mesmo o debate sobre se as pessoas «não brancas» seriam dotadas de alma) por argumentos culturais, de uma suposta superioridade cultural que legitima subjugar-se ou menorizar-se alguém em função da cor, etnia ou país de origem. Somos os/as que se apressam a negar e a dizer que o racismo (e a xenofobia) aqui, não existe. Afinal de contas, temos responsáveis políticos, brancos, que afirmam que não notam a existência de racismo ou o equiparam ao preconceito relativamente a «investidores privados» ou «investidores bolsistas», numa clara demonstração de que «o poder de definição recai sobre o dominante, o hegemónico, o elemento de preponderância e de poder» (Hugo Monteiro).
O dia da raça durou até ao fim do Estado Novo. Transfigurou-se – e bem – em Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e, consoante a ou o preletor escolhido pelo Presidente da República, cheira a bafio ou a esperança.
Este ano, o discurso do Dia de Portugal foi proferido por um madeirense, uma espécie de bofetada de luva branca em quem instrumentaliza o sentimento de pertença e instiga divisionismos por um lado e a mão adolescente estendida por outro. D. Tolentino Mendonça reabilitou o sentir madeirense como um sentir que é também plenamente português. E lembra que «no itinerário de um país, cada geração é chamada a viver tempos bons e tempos maus (...) ruturas e recomeços.» Adverte que «O importante a salvaguardar é que, como comunidade, nos encontremos unidos em torno à atualização dos valores humanos essenciais e capazes de lutar por eles». A comunidade somos nós, portugueses e portuguesas, madeirenses, porto-santenses, e temos a obrigação de não advogar uma comunidade com cidadãos e cidadãs de primeira e de segunda, temos o imperativo de ver em todas as outras pessoas um ser humano.
No espaço de uma semana perdemos duas referências madeirenses: o Padre Mário Tavares e a Professora Conceição Pereira. Curiosamente, passaram ambos pela Assembleia Legislativa da Madeira na mesma altura: entre 1992 e 1996.
Foi precisamente no Jardim da Serra que tive a notícia do falecimento do Padre Tavares. O Jardim da Serra foi durante mais de 20 anos o centro da sua atuação pastoral, política e de cidadania. Foi sempre fiel aos seus valores na luta por uma Região menos desigual. E livre. A sua liberdade – e anseio por liberdade para todos e todas – não foi compreendida pelos seus superiores que achavam que a intervenção política de um homem da Igreja deve ser insidiosa, nunca explícita e aberta (e, principalmente, não do lado da barricada que ele escolheu). Não sucumbiu ao medo nem à amargura. Um homem bom.
Conheci pessoalmente a Conceição Pereira quando fiz parte ativa da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) – núcleo da Madeira, que lhe prestou tributo em 2010. Feminista, mulher de lutas sindicais, militante na UDP e cofundadora do Bloco de Esquerda, sempre se bateu, também ela, por uma Região mais livre e menos desigual, pelos direitos das mulheres por e para quem escreveu e agiu.
Saibamos honrar o trabalho e o legado de ambos, democratas irredutíveis que se entregaram à aventura de considerar para as outras pessoas exatamente o mesmo que queriam para si.