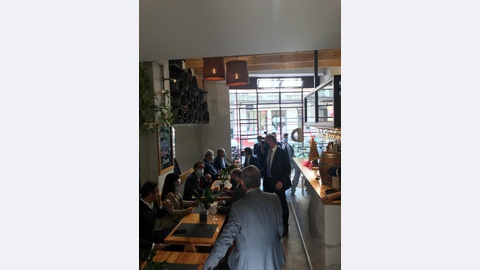Salvar o Natal?
Naquele tempo, a magia da noite de Natal atravessava o ar como um perfume irrecusável que a todos envolvia. Aquela era a noite, por certo mais clara que os dias todos. Com ânimo acelerado a esperávamos, semana após semana, até que vinha finalmente a última missa do parto... Mas isso era quando a alegria era mais que riso sem freio, pressentíamo-la vinda de mais fundo e de muito antes, percebíamos que uma promessa sagrada se cumpria, e a alegria era então um sentir tão nítido, que nos inebriava e levava em vertigem despreocupada e feliz pelas noites e dias adiante: a Festa vinha da alma e ia até à ponta dos dedos, pois a esperança ganhara um nome e era, enfim, um corpo, um rosto, uma Palavra que a todos provocava pelo inesperado do dom, impossível seria não partilhá-lo, uma leve turbulência vinha do riso e dos cantares, o uníssono da comunhão que atravessa uma comunidade ligada por uma raiz comum de cultura e de crença. Hoje, percebemos melhor que era isso mesmo que se passava — uma perceção simples e elementar da fé, obscura mas não incerta, mais um sentir que um compreender, nessa altura obviamente sem lucubrações teológicas nem os pesados rituais que se seguem: afinal, esta era a grande festa do deus próxima, religião encarnada! Percebíamos sem perceber que se rasgava o pano sobre o Mistério não apenas anunciado, mas agora com um Rosto e um Nome, como é próprio de uma Pessoa — e todos diziam que se chamava “Emmanuel”.
*
Naquele tempo, e naquela noite, lá na igreja junto ao mar, o frio era mais suportável, havia mais estrelas no céu e a missa “do galo” era mesmo à meia noite. O presépio estava ali à nossa frente, em colorida coreografia de ribeiras, rebanhos e pastores, casinhas pelas encostas de papel, pedras e musgos e pequenas searas semeando o verde à volta dos caminhos, tudo a convergir para a gruta, a família primordial com o recém-nascido, cena ancestral reconstruída no agora da comunidade crente, para nós uma representação bem viva e concreta, tão simples e tão próxima na sua verdade essencial: Jesus nascia, outra vez e sempre, naquela santa noite, e o Mistério que a pregação dizia ser do Natal ganhava então uma verdade de carne e osso, um júbilo de cânticos e afetos o celebravam no calor da igreja cheia, mais luz e cor no espaço partilhado da alegria e do dom. A veracidade sensível e apaixonada da Festa trazia humanidade e esperança àquela que era, no fundo, pura celebração da vida. É sempre nisto que penso, quando precisamos lembrar — aos professos doutores das filosofias religiosas do “pronto-a-consumir”, como aos praticantes rigorosos e frios de rezas sem conteúdo — que o cristianismo é, desde sempre e para sempre, uma religião encarnada: esse é o Mistério maior que atravessa o tempo, uma narrativa de carne e sangue que vai de Belém ao Calvário. Por isso, esta é a Festa, e nunca aprenderemos nem viveremos suficientemente aquilo que ela quer dizer: olhos no céu com os pés na terra, verdade e fraternidade, pão partilhado na casa comum, justiça com liberdade. E sempre... “de joelhos diante de Deus, de pé diante dos homens”.
Em cada Natal, essa é a promessa renovada: a Festa vem todos os anos em dezembro, o que só nos faz bem, esquecidos como somos...
*
Naquele tempo, ainda não tinha chegado o rei Corona e os mandantes de então não ousavam dizer que era preciso... “salvar o Natal”! Impressionante: o que será que eles, “pais da pátria” aflitos com a epidemia que grassa, quererão mesmo dizer com “salvar o Natal”? Acontece que “Natal” é anúncio de “salvação” — reconciliação do homem consigo próprio e com o mundo, numa totalidade de sentido que só a pura dádiva da fé e da esperança permitem escorar. Mas não é isto o que a nossa cultura da imanência e da glorificação do inútil imediatamente percebe no “salvar o Natal”. A expressão, mais política que religiosa, remete sobretudo para o nosso estilo de vida: o Natal cercado pelos “ritos bem” da sociedade que cultiva a intenção piedosa mais do que a justiça; o Natal colonizado pelo consumo imparável de coisas belas e inúteis afagando as boas consciências, ilusão da vaga religiosidade que resta; os pobres e os velhos cada vez mais sós e deserdados; pais natais e leds chineses a invadirem, qual maré inelutável, os cantos todos de vilas e cidades; o Natal feito espetáculo feérico da frivolidade que passa, balão de oxigénio da economia raquítica, por certo sofrendo já, em momentos de lúcida antecipação, as agruras do chamado regresso à normalidade. Mas, à luz do verdadeiro Natal, é sobretudo deste “natal” da vidinha contente, do ruído do marketing e da fútil encenação kitsch, que precisamos ser salvos, tanto como do vírus, para não passarmos de vorazes consumidores a objetos consumidos, sem rosto e sem alma, no lume brando da frustração quotidiana e da morte apenas adiada.
*
Naquele tempo, os três “Reis Magos” puseram-se a caminho de Belém, guiados por uma estrela até ao recém-nascido. Dizem que dessa memória pouco se sabe ao certo, a lenda ou a história perdem os reais contornos na massa informe dos séculos. Mas, aí reside o poder imenso da metáfora, que Sophia não desprezou e que lhe serviu de guia no magnífico conto “Os três Reis do Oriente”. Face a este texto com que ela encerra os “Contos Exemplares” — que mereceram longo e profundíssimo prefácio (na verdade um “Pórtico”) do antigo Bispo do Porto, exilado por Salazar (“De joelhos diante de Deus, de pé diante dos homens!”), interrogava-se D. António Ferreira Gomes:
“E que melhor liturgia natalícia da Palavra se poderia desejar do que essa extraordinária parábola de ‘Os Três Reis Magos’, exorcizando e arrastando na sua Peregrinação atrás da estrela os problemas, tragédias e mentiras da sociedade, com o seu endeusamento e culto(...)”?
Gaspar, que recusava o culto do bezerro de oiro e o oiro do bezerro, dizia: “Não posso adorar o poder dos ídolos. O meu deus é outro e creio no seu advento, que a Terra e o Céu me anunciam”. Então, aí começou para ele “o tempo da solidão... Porém o tempo crescia”. E debruçado sobre o tempo, Gaspar fazia a genial pergunta: “Que pode crescer dentro do tempo senão a justiça?”
Melchior convocou assembleias de sábios e de filósofos, para interpretarem o enigmático escrito em vetusta placa de argila que atravessou os séculos. Em vão: como sempre, contradições e debates infindáveis. Então, Melchior levantou-se e disse: “Ide em paz e continuai os vossos estudos. Eu continuarei a perguntar, a escutar e a esperar”. Porque não podia aceitar que “nascemos para morrer”, depois de se terem retirado os pensadores o rei subiu ao terraço e viu que havia no céu, a Oriente, uma nova estrela: “Sobre o mundo do sono, sobre a sombra intrincada dos sonhos onde os homens se perdiam tateando, como num labirinto espesso, húmido e movediço, a estrela acendia, jovem, trémula e deslumbrada, a sua alegria”.
Baltazar “amava a frescura dos jardins”, mas um dia deu com os olhos no rosto de outro homem: “O que naquele rosto mais o surpreendia era a nudez, a evidência nua. Era como se naquele rosto o cerimonial da vida tivesse retirado a sua máscara e a realidade mostrasse, sem nenhum véu, o abandono, a dor consciente, a condição do homem”. Saiu a procurá-lo pela cidade. Não o encontrou, mas ficou a conhecer a cor de cinza da fome e da pobreza. Dirigiu-se depois ao templo de todos os deuses e interrogou os sacerdotes: “Dizei-me onde está o altar do deus que protege os humilhados e os oprimidos, para que eu o implore e adore. Ao cabo dum longo silêncio, os sacerdotes responderam: - Desse deus nada sabemos”. Voltou então o Rei aos seus terraços, e disse: “Senhor, eu vi. Vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver?”
Por sobre as montanhas e as perguntas únicas de cada um dos Reis brotando do fundo mesmo da Vida, a estrela ergueu-se no céu a Oriente: “O seu movimento era quase impercetível. Deslizava em silêncio, sem que nem uma folha se agitasse. Vinha desde sempre. Mostrava a alegria, a alegria una, sem falha, o vestido sem costura da alegria, a substância imortal da alegria”. Reconhecendo-a, “porque ela não podia ser de outra maneira”, os Reis ousaram a interrogação fundamental, aquela que abarca a vida toda, o céu e a terra, e viram na estrela do Oriente uma resposta. Deixaram a farta absurdidade quotidiana dos seus palácios e puseram-se a caminho: eles é que foram... salvos pelo Natal!