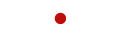Eduardo Lourenço
As palavras breves de Pacheco Pereira sobre Eduardo Lourenço, na Sábado desta semana — “0 homem de pensamento largo e passos pequeninos”, a que acrescenta “de uma enorme gentileza e ironia”, sublinhando que “não há muitos assim” — fizeram-me recordar a circunstância em que o conheci pessoalmente. Foi em Maio de 2007, quando da realização (pela velha DRAC...) do congresso “Jardins do Mundo - Discursos e Práticas”. Lourenço proferiu a primeira conferência de abertura, ficando a segunda a cargo de Gonçalo Ribeiro Telles (e assim vão desaparecendo, neste tempo de ideias curtas e vistas para lugar nenhum, alguns dos nossos “pais pensadores”: a pátria como cultura, identidade e utopia).
Subjacente à temática geral do congresso estava o tópico da ilha-jardim, mito pujante capaz de convocar o “paraíso perdido” e glosar o tema pelos vários imaginários de tempo e lugar, na construção e fruição dos jardins enquanto arquétipo primordial da beleza. Foi assim que o congresso se desdobrou em dezenas de comunicações, com Eduardo Lourenço a falar de “Jardins e Cultura: os Mares do Sul como Utopia”. Relendo agora essa erudita digressão pelas variantes do mito da ilha-paraíso na literatura ocidental, é curioso perceber como aí se cruzam os grandes nomes do utopismo, das Luzes e do Romantismo francês, antes de chegar finalmente a Pessoa, que “exprimiu tão bem a essência de toda a exigência utópica como consubstancial com a nossa alma. Com a condição de que em parte alguma ela possa encarnar. Utopia encarnada, utopia morta”, pois ela só pode ser “pura aspiração”. E a terminar: “Nós mesmos como aspiração pura, sem configuração no espaço e no tempo”. Ou na citação final de Pessoa: “É em nós que é tudo. É ali, ali/Que a vida é jovem e o amor sorri”.
Se um itinerário do prazer de pensar podemos seguir em alguém, essa pessoa é Eduardo Lourenço. Mas, o que noutros cria um esgar de sobranceria, nele é partilha e generosidade afável. Aproximava-se de nós com aquele sorriso tímido nos olhos brilhantes, a presença sempre discreta, simples nas atitudes, a fina ironia na conversa sempre pronta. Era o último humanista, um homem que veio da filosofia para a literatura, sério conhecedor dos clássicos e da cultura portuguesa. O exercício do livre pensamento foi o seu pão de cada dia. Do cinema à poesia ou à música, da política às mitologias da pátria, nada era estranho à sua paixão de pensar. A sua ausência vai fazer-nos imensa falta: não é possível recriar outra “psicanálise mítica do povo português” que nos acenda uma luz na alma face ao abismo — a “loucura mansa” feita modo de vida — para onde caminhamos. Tudo demasiado imediato, calculista, interesseiro e pobre. Precariedade material e espiritual juntas: isso não augura nada de bom. E não foi o covid que originou isto, o mal vem de antes e é muito mais profundo, talvez a inconsciência de ser, quando se exigiria saber mais do destino que nos cabe, como seres humanos e como país. No seu pensar estava quase tudo: a ética e a estética, um pensar do homem que era também um pensar do mundo, um saber que não era só erudição, mas sabedoria. E tudo isso numa coerência feliz, presença e verdade face à vida e aos outros. A sua ausência física definitiva deixa-nos um legado magnífico, um pensamento para interrogar a vida e, no vislumbre do sentido e do mistério, uma saída possível para enfrentar a morte. Pensar a sério o homem, o mundo e a vida só nos pode conduzir ao limiar de uma transcendência — ou, para usar uma expressão do próprio Eduardo Lourenço, à “insepulta nostalgia de Deus”.