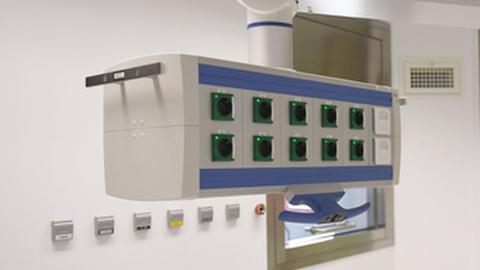O velho anormal
O que degenera é o centro democrático português, convertido num comité situacionista
Portugal sonha com a pandemia. Mais precisamente, sonha com as “oportunidades” da pandemia, e com uma terra prometida que se convencionou designar de “novo normal”. Não se pode abrir um jornal, ligar a televisão, ou penetrar numa rede social sem se deparar com um qualquer profeta, explicando as razões do desnorte e a maneira infalível de arrepiar caminho. Segundo António Guterres, por exemplo, as desigualdades raciais, de género e – vá lá– económicas foram postas a nu pela doença, e a sua reparação exige nada menos que um Novo Contrato Social. O Papa anunciou que a “fragilidade dos sistemas mundiais perante a pandemia evidenciou que nem tudo se resolve com a liberdade de mercado”. Algumas feministas notam que a pandemia é especialmente penosa para as mulheres, o que reclama medidas específicas e imediatas. Imbuídos do mesmo espírito salvífico, adventistas menores juram que a solução para o ambiente é trabalhar de casa, viajar menos, apostar em soluções de mobilidade. O “novo normal” não surgirá por iniciativa civil, mas por decreto do Estado. E abalança-se – teso como um carapau – a mudanças com que dantes não se sonharia sem uma revolução.
O que espanta não é a súbita tendência do País para a reforma, que na intenção nunca desiludiu. O estranho é que os catecúmenos desta nova religião não se tenham ainda apercebido das profundas contradições destas suas premissas.
Não há melhor exemplo do delírio colectivo que se estabeleceu do que o atual desdém pelo comércio global, de repente a fonte de todos os males. Guterres, pelo menos, estava obrigado a conhecer o progresso que que por aí se ia fazendo. Entre 2000 e 2019, 65 países reduziram “de forma notável” os níveis de pobreza. Quem o assegura é o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Da ONU. Como a pobreza, a desigualdade global também vinha diminuindo em quase todo o lado, mantendo-se estável apenas na Europa Ocidental, América do Norte e Oceânia. E é o próprio Relatório a admitir que a pandemia vai frustrar estes avanços.
A lente distorcida e perversamente privilegiada destas declarações revela-se noutros domínios. O resgate do turismo, por exemplo, depende criticamente da poluição do transporte aéreo. E a emancipação da mulher representa, antes de mais, uma emancipação do lar, onde se perpetua o desequilíbrio e se esconde o abuso. O teletrabalho e a telescola são, para muitos, uma forma prisão domiciliária.
Estas tensões corriqueiras entre vontade e resultados não perturbam, porém, as utopias pandémicas. Todas partem de uma mesma ilusão, um pouco parva e – convenhamos – um pouco de esquerda: a de que o ambiente, a igualdade, a saúde pública e a sustentabilidade são escolhas morais, alheias ao rendimento económico e independentes de uma satisfação material básica. Sucede que não são. São cerejas no topo de um bolo de riqueza, produtos de um pensamento que, subsistindo confortavelmente, se dá finalmente ao luxo de se ilustrar. Nos cantos mais remotos e miseráveis desta Terra, transbordando de mulheres, de negros, indianos e asiáticos, os direitos humanos não brotam em vácuo. A senda pela decência industrial e de costumes vem embrulhada numa amálgama de aspiração humana que criticamente inclui explorar, produzir, transportar, vender e comprar – fogões, televisões e máquinas de lavar. Que inclui o ócio e a liberdade que só o dinheiro dá ao tempo.
A pandemia pode ter exposto as falhas desse sistema, mas revelou bem mais a falta que ele faz. Só este ano, faz falta a 100 milhões de novos pobres, de que estes beneméritos estranhamente se alheiam.

Estes falsos dilemas de países decadentes seriam inconsequentes, se não nos distraíssem das decisões que verdadeiramente condicionam o nosso futuro.
De facto, se a realização material da democracia depende de dinheiro, a sua organização formal basta-se sem ele. Um Estado não precisa de ser rico para adjudicar contratos públicos de forma imparcial, para nomear altos funcionários meritoriamente, ou para indigitar magistrados e reguladores independentes. Quanto a isso, ficámos esclarecidos. A colonização do Estado não é em Portugal uma perversão, mas uma ideologia. O regime crê que o aparelho funciona melhor quando a cadeia de comando é ocupada por pessoas da confiança do Governo, e que o contrapoder e o pluralismo desgastam a eficácia do poder.
Sítios melhor frequentados saberiam, por força de milhões de exemplos históricos, que a ausência de escrutínio convida ao desleixo e à depressão. Sucede que Rui Rio confunde estes abusos com um pulso firme, que a sua costela alemã e provinciana admira, e Marcelo Rebelo de Sousa já esclareceu que mais depressa intercede na mesa da consoada do que na prostituição do regime.
Lamento, mas o que se despenha não é o ambiente, a sustentabilidade, a igualdade, os direitos humanos. O que nos ameaça não é o discurso abstracto, sem terra e pós-moderno que é a epiderme da crítica a um capitalismo que começa a deixar saudades. O que degenera é o centro democrático português, convertido num comité situacionista, empenhado em evitar reformas e mecanismos de fiscalização e transparência. Um centro que regressa aos modos extractivos, corporativos e compadres de que sempre derivou a nossa imobilidade social, e que lança, sem oposição, as sementes para que sejamos finalmente o país mais pobre da Europa.
O povo, se não se quiser entregar às margens radicais da democracia, tem uma opção clara: ou se sonha com o “novo normal”, ou acorda para este este velho anormal, que lhe servem frio e sem recurso. Como censurar quem sonha?