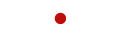São Lourenço
De vez em quando impõe-se, por força maior, a ingrata missão de aborrecer de morte o leitor.
Hoje, perdoe-nos Deus, é um desses dias. Ou não fosse hora de falar no escancaramento da Autonomia às mãos da pandemia, e da impreterível necessidade de a reformar.
Duvidam? Dura pouco. Pensem numa figura que reside nos átrios do Palácio de São Lourenço. Não parece, mas ali, detrás de onde a guarda se rende, entre jardins bucólicos, fatiadas travessas de fruta, e bricabraque colonial, observa-nos, de braços atrás das costas, a autoridade do Estado na Região.
Caindo – tolos! – no erro de estudar os rudimentos da Constituição e de uma ou outra lei, deparamo-nos com uma ou duas funções dessa autoridade. À cabeça competia-lhe – palavra – executar a declaração do Estado de Emergência na Região. Cabia-lhe, também, verificar a constitucionalidade dos atos praticados pela Assembleia Legislativa Regional. Podia informar-se junto das polícias. Uma vez por outra, não estaria fora do seu lugar se saísse do Palácio e – audácia das audácias – aparecesse, dando mostras de cumprimento de uma qualquer função oficial, ou de uma qualquer ligação ao povo que sofre.
Esqueço-me agora do nome do inquilino. Regedor das Ilhas? Procurador da Coroa? Mandatário Nacional? Representante do Estado? Superintendente da República?
Não interessa. Sei que não está, não tem estado – ou, se está, não foi tido nem achado – na crise mais grave da Autonomia democrática.
A culpa não é de Irineu Barreto, que é só o titular. A culpa é do cargo, que não tem para onde se virar.
Pior do que o Representante da República não exercer as funções que tem, é não desempenhar as que devia ter: a de um verdadeiro Presidente da Madeira, que representasse a Madeira em Lisboa e fora de portas.
O Governo Regional governa, e fala a partir da legitimidade derivada da Assembleia. É ocupado, fraco, parcial. O Representante age indigitado pelo Presidente da República. É ocioso, diluído, subordinado. O Presidente da Madeira falaria com o voto dos Madeirenses. Seria comandante, íntegro, soberano. Representaria a Madeira, e não um partido ou um arranjo parlamentar.
Precisamos, hoje, dessa voz. A Madeira, como outras regiões, parece condenada a depauperar. O distanciamento moral, a irrelevância eleitoral, a concentração totalitária da razão de Estado castigou a paisagem que não é Lisboa, e condenou-a – por hábito, mas também por natureza – aos desmandos e alheamento da corte da capital. A história dos números, dos intermináveis números, chocalhados num almofariz de estatística, aldrabice, e detalhes com o diabo escondido. Lisboa, sempre Lisboa, o que se diria – e o que se faria – se os números não viessem de Lisboa, se um vale estranho às margens do Tejo arruinasse a nacional prestação. A suspeita, compacta e total como o calor, de que o vírus vive de densidade populacional, dos rituais e dos hábitos da selva urbana, e de que mais vale as pazes com essa fatalidade do que a busca da sua negação numa liberdade bucólica, burguesa e privativa, que não é de todos e nunca o será. A ausência da Madeira das notícias, senão a propósito do lay-off, da sugestão de um desemprego definitivo e inteiro, na esteira de uma indústria turística que, como um coração, baqueou para depois mirrar. A suma incerteza no transporte aéreo. A unidade do território como miragem, faraónica e falhada. As papas e bolos de Marcelo. Uma ilha sem mercado europeu, nacional, interno. Longe do Terreiro do Paço, e das reuniões entretanto canceladas do Infarmed. Longe da estratégia, entretanto fechada, de um consultor que não nos consultou. A Saúde de novo desafiada, e ameaçada na razão da periferia e do desinvestimento na tecnologia e profissionais de saúde. Nas entrelinhas desfiam sombras de jogadas maquiavélicas e interesseiras, a lembrança deprimente de que ao Estado, medievalmente reforçado, ocorre ainda fazer política, e a Madeira é para muitos ainda o castelo por tomar.
Tudo pede dos órgãos regionais uma gravidade, uma presença, e até uma força que a Constituição e a tradição não lhes souberam reconhecer. Os consulados de Jardim, Mota Amaral e Carlos César foram buscar esse peso ao tempo, mas não só não temos esse tempo, como já não estamos nele.
Em São Lourenço, mora hoje a folha estaladiça de uma instituição caduca, aguardando por um vento que traduza o pensamento. Em tempos assim, quando o arco da História abala, e sobre nós pendem abandonos e crueldades antigas, a aspiração autonomista não se pode ficar pela abstração consoladora, ou uma figura de estilo para exaltação dos simples. Deve ser motivo e critério de acção.
Aborrece-nos discutir a Autonomia, o Sistema Político, o carácter menos superficial da nossa relação com o Estado. Mas só porque esses assuntos nos confrontam com a impotência, dependência e solidão que tacitamente aceitámos.
Não precisa de ser assim. Certos ferros malham-se enquanto estão quentes. Este ferve. É a Madeira, e não a República, que deve estar representada em São Lourenço.